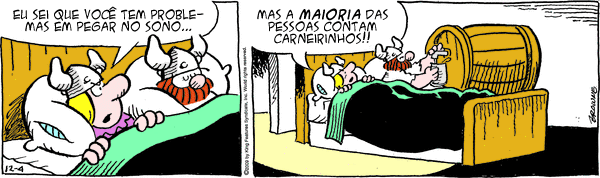Naquela
rua morava um casal de velhos. A mulher esperava o marido na varanda,
tricoteando em sua cadeira de balanço. Quando ele chegava ao portão,
ela estava de pé, agulhas cruzadas na cestinha. Ele atravessava o
pequeno jardim e, no limiar da porta, antes de entrar, beijava-a de
olhos fechados. Sempre juntos, a lidar no quintal, ele entre as
couves, ela no canteiro de malvas. Pela porta aberta da cozinha, os
vizinhos podiam ver que o marido enxugava a louça para a amiga. Aos
sábados, saíam a passeio, ela, gorda, de olhos azuis e ele, magro,
de preto. No verão, a mulher usava um vestido branco fora de moda;
ele, ainda de preto. Um mistério a sua vida; sabia-se vagamente,
anos atrás, um desastre, os filhos mortos. Desertando casa, túmulo,
bicho, os velhos mudaram-se para Curitiba.
Só
os dois, sem cachorro, gato, passarinho. Por vezes, na ausência do
marido, ela trazia ossos para os cães vagabundos que cheiravam o
portão. Se engordava uma galinha, logo se enternecia, incapaz de
matá-la. O homem desmanchou o galinheiro e, no lugar, plantou cacto
feroz. Arrancou a única roseira no canto do jardim. Nem a uma rosa
se atrevia a dar seu resto de amor.
A
não ser no sábado, não saíam de casa, o velho fumando cachimbo, a
velha trançando agulhas. Até o dia em que, abrindo a porta, de
volta do passeio, acharam a seus pés uma carta.
Ninguém
lhes escrevia, nenhum parente ou amigo no mundo. O envelope azul, sem
endereço. A mulher propôs queimá-lo, já tinham sofrido demais.
Ele respondeu que pessoa alguma lhes podia fazer mal.
Não
queimou a carta, não a abriu, esquecida na mesa. Sentaram-se sob o
abajur da sala, ela com o tricô, ele com o jornal. A dona baixava a
cabeça, mordia uma agulha, com a outra contava os pontos e, olhar
perdido, recontava a linha. O homem com o jornal dobrado no joelho
lia duas vezes cada frase. O cachimbo apagou, não o acendeu, ouvindo
o seco bater das agulhas.
Abriu
enfim a carta. Duas palavras: “Corno manso”, em letras recortadas
de jornal. Nada mais, data ou assinatura. Estendeu o papel à mulher
que, depois de ler, o olhou. Nenhum falou. Ela se pôs de pé, a
carta na ponta dos dedos.
— Que
vai fazer?
—
Queimar.
Ele
acudiu que não. Enfiou o bilhete no envelope, guardou no bolso.
Ergueu a toalhinha caída no chão e prosseguiu a leitura do jornal.
A
mulher recolheu na cestinha o fio e as agulhas.
— Não
ligue, minha velha. Uma carta jogada em todas as casas.
O
canto das sereias chega ao coração dos velhos? Esqueceu o papel no
bolso, outra semana passou. No sábado, antes de abrir a porta, sabia
que a carta estava à espera. A mulher pisou-a, fingindo que não
via. Ele a apanhou e meteu no bolso.
Ombros
curvados sobre o trabalho, contando a mesma linha, ela perguntou:
— Não
vai ler?
Por
cima do jornal admirava a cabeça querida, sem cabelo branco, os
olhos que, apesar dos anos, eram azuis como no primeiro dia.
— Já
sei o que diz.
— Por
que não queima?
Era
um jogo e exibiu a carta: nenhum endereço. Abriu-a, duas palavras,
letras recortadas. Soprou o envelope, sacudiu-o sobre o tapete, mais
nada. Colecionou-a com a outra e, ao dobrar o jornal, notou que a
amiga desmanchava um ponto errado na toalhinha, Acordou no meio da
noite, saltou da cama, foi olhar à janela. Afastou a cortina, ali na
sombra um vulto de homem. Mão crispada, até o outro ir-se embora.
Sábado
seguinte, durante o passeio, pensou se apenas ele recebia a carta.
Podia ser engano, não tinha direção. Ao menos citasse nome, data,
um lugar. Empurrou a porta, lá estava: azul. No bolso com as outras,
abriu o jornal. Voltando as folhas, surpreendia o rosto debruçado
sobre as agulhas. Toalhinha difícil, trabalhada havia meses.
Recordou a legenda de Penélope, que desfazia de noite, à luz do
archote, as linhas acabadas durante o dia e assim ganhava tempo de
seus pretendentes, à espera do marido. Calou-se no meio da história:
ao marido ausente enganara Penélope? Para quem a mortalha que
trançava? Continuou a estalar suas agulhas após o regresso de
Ulisses?
No
banheiro fechou a porta, rompeu o envelope. Duas palavras...
Imaginara um plano: guardou a carta e dentro dela um fio de cabelo.
Pendurou o paletó no cabide, o papel visível no bolso. A mulher
deixava a garrafa de leite na porta, ele foi-se deitar. Pela manhã
examinou o envelope: parecia intacto, ao mesmo lugar. Esquadrinhou-o
em busca do cabelo branco — não o achou.
Desde
a rua vigiava os passos da mulher dentro de casa. Ela vai encontrá-lo
no portão — nos olhos o reflexo da gravata do outro. Ah,
erguer-lhe o cabelo da nuca, se não tinha sinais de dente... Na
ausência dela, abria o guarda-roupa, enterrava a cabeça nos
vestidos. Atrás da cortina espionava os homens que cruzavam a
calçada. Conhecia o leiteiro e o padeiro, moços, de sorrisos
falsos.
Reconstituía
os gestos da amiga: pó nos móveis, a terra nos vasos de violetas
úmida ou seca... Marcava o tempo pela toalhinha. Sabia quantas
linhas a mulher tricoteava e quando, errando o ponto, devia
desmanchá-lo, antes mesmo de contar na ponta da agulha.
Sem
prova contra ela, nunca revelou o fim de Penélope. Enquanto lia,
observava o rosto na sombra do abajur. Ao ouvir passos,
esgueirando-se na ponta dos pés, espreitava à janela: a cortina
amarrotada pela mão raivosa.
Afinal
comprou uma arma. “Para que o revólver?” — espantou-se a
companheira. Ele referiu o número de ladrões na cidade. Exigia
conta de antigos presentes. Não faria toalhinhas para o amante
vender? No serão, o jornal aberto no joelho, vigiava a mulher — o
rosto, o vestido — atrás da marca do outro: ela errava o ponto,
tinha de desmanchar a linha.
Aguardava-o
na varanda. Como se não a conhecesse, passava diante da casa. Na
volta, sentia os cheiros no ar, corria o dedo sobre os móveis,
apalpava! a terra das violetas — sabia onde a mulher estava.
De
madrugada acordou e viu o travesseiro vazio, ainda quente da outra
cabeça. Sob a porta, uma luz na sala. Fazia seu tricô, sempre a
toalhinha. Era Penélope desfazendo na noite o trabalho de mais um
dia?
Erguendo
os olhos, a mulher deu com o revólver. As agulhas batiam, sem
qualquer fio.
Jamais
soube por que a poupou. Assim que se deitaram, ele caiu em sono
profundo.
Havia
um primo no passado. Em vão a dona jurava: o primo aos doze anos
morto de tifo. No serão ele retirou as cartas do bolso — eram
muitas, uma de cada sábado — e leu, entre dentes, uma por uma.
Não
aceitou permanecer em casa no sábado, para identificar o autor.
Sentia falta daquele bilhete. Á. correspondência entre o primo e
ele, o corno manso; um jogo, onde no fim seria vencedor. Um dia o
outro revelaria tudo, forçoso não interrompê-la.
No
portão dava o braço à companheira, não se falavam durante o
passeio, sem parar diante das vitrinas. De regresso, apanhava o
envelope e, antes de abri-lo, andava com ele pela casa. Em seguida
escondia um cabelo na dobra, deixava-o na mesa.
Sempre
achou o cabelo, nunca mais a mulher decifrou as duas palavras. Ou —
ele se lembrava, com nova ruga na testa — descobriu a arte de ler
sem desmanchar a teia?
Uma
tarde abriu a porta e aspirou o ar. Deslizou os dedos sobre os
móveis: pó. Tateou a terra dos vasos: seca. Direito ao quarto de
janelas fechadas e acendeu a luz. A velha ali na cama, revólver na
mão, vestido branco ensanguentado. Deixou-a de olhos abertos.
Não
sentiu piedade, havia sido justo. A polícia o mandou em paz, não
estava em casa à hora em que a mulher se suicidara. Quando o enterro
saiu, os vizinhos comentaram a sua dor profunda, não chorava.
Segurando uma alça do caixão, ajudou a baixá-lo na sepultura;
antes de o coveiro acabar de cobri-lo, foi-se embora.
Entrou
na sala, viu a toalhinha na mesa — a toalhinha de tricô. Penélope
havia concluído a obra, era a própria mortalha que tecia — o
marido em casa.
Acendeu
o abajur de seda verde. Sobre a poltrona, as agulhas cruzadas na
cestinha.
Sábado,
recordou-se. Pessoa alguma tinha poder de fazer-lhe mal. A mulher
pagara pelo crime.
Ou
— de repente o alarido no peito — acaso inocente? A carta jogada
sob outras portas... Por engano na sua.
Um
meio de saber, podia envelhecer tranquilo. Destinadas a ele, não
viriam, com a mulher morta, nunca mais. Aquela foi a última — o
outro havia tremido ao encontrar porta e janela abertas. Teria visto
o carro funerário no portão. Acompanhado, ninguém sabe, o enterro.
Um
dos que o acotovelaram ao ser descido o caixão — um pouco de água
na cova.
Saiu
de casa, como todo sábado. O braço dobrado, hábito de dá-lo à
amiga em tantos anos. Diante da vitrina com vestidos, alguns brancos,
o peso da mão dela. Sorriu com desdém da sua vaidade, ainda
morta...
Os
dois degraus da varanda — “Fui justo”, repetia, “fui justo”
—, com mão firme girou a chave. Abriu a porta, pisou na carta e,
sentando-se na poltrona, lia o jornal em voz alta para não ouvir os
gritos do silêncio.
Dalton
Trevisan, in Novelas nada exemplares