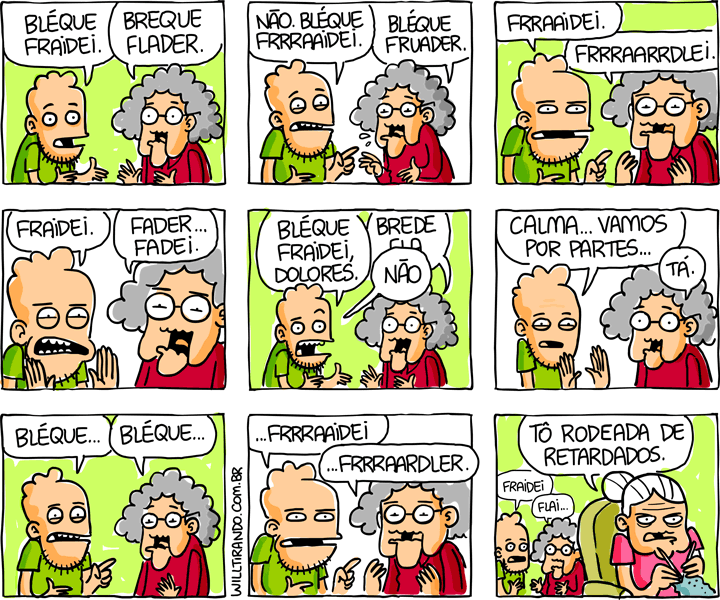segunda-feira, 30 de novembro de 2015
Um texto apagado de todo
“Tudo
quanto o homem expõe ou exprime é uma nota à margem de um texto
apagado de todo. Mais ou menos, pelo sentido da nota, tiramos o
sentido que havia de ser o do texto; mas fica sempre uma dúvida, e
os sentidos possíveis são muitos.”
Bernardo
Soares, heterônimo de Fernando
Pessoa
Deus acontecendo
Através dos teus dias sonho coisas caras
e febris – o luxo e o talento, por exemplo. Como uma brasa no
coração. E longe, por ruas, por estradas onde nunca vou, este sol
da tarde: deus acontecendo.
Lúcio
Cardoso, in Diários
Jagunço comportado
De
jagunço comportado ativo para se arrepender no meio de suas
jagunçagens, só deponho de um: chamado Joé Cazuzo ― foi em
arraso de um tirotêi, pra cima do lugar Serra-Nova, distrito de
Rio-Pardo, no ribeirão Traçadal. A gente fazia má minoria pequena,
e fechavam para riba de nós o pessoal dum Coronel Adalvino, forte
político, com muitos soldados fardados no meio centro, comando do
Tenente Reis Leme, que depois ficou capitão. Aguentamos hora mais
hora, e já dávamos quase de cercados. Aí, de bote, aquele Joé
Cazuzo ― homem muito valente ― se ajoelhou giro no chão do
cerrado, levantava os braços que nem esgalho de jatobá seco, e só
gritava, urro claro e urro surdo! ― Eu vi a Virgem Nossa, no
resplandor do Céu, com seus filhos de Anjos!... Gritava não
esbarrava. ― Eu vi a Virgem!... Ele almou? Nós
desigualamos. Trape por meu cavalo ― que achei ― pulei em mal
assento, nem sei em que rompe-tempo desatei o cabresto, de amarrado
em pé de pau. Voei, vindo. Bala vinha. O cerrado estrondava. No
mato, o medo da gente se sai ao inteiro, um medo propositado. Eu
podia escoicear, feito burro bruto, dá-que, dá-que. Umas duas ou
três balas se cravaram na borraina da minha sela, perfuraram de
arrancar quase muita a paina do encheio. Cavalo estremece em pró, em
meio de galope, sei! pensa no dono. Eu não cabia de estar mais bem
encolhido. Baleado veio também o surrão que eu tinha nas costas,
com poucas minhas coisas. E outra, de fuzil, em ricochete decerto,
esquentou minha côxa, sem me ferir, o senhor veja! bala faz o que
quer ― se enfiou imprensada, entre em mim e a aba da jereba! Tempos
loucos... Burumbum!! o cavalo se ajoelhou em queda, morto quiçá, e
eu já caindo para diante, abraçado em folhagens grossas, ramada e
cipós, que me balançaram e espetavam, feito eu estava pendurado em
teião de aranha… Aonde? Atravessei aquilo, vida toda... De medo em
ânsia, rompi por rasgar com meu corpo aquele mato, fui, sei lá ―
e me despenquei mundo abaixo, rolava para o oco de um grotão fechado
de môitas, sempre me agarrava ― rolava mesmo assim! depois ―
depois, quando olhei minhas mãos, tudo nelas que não era tirado
sangue, era um amasso verde, nos dedos, de folhas vivas que puxei e
masgalhei... Pousei no capim do fundo ― e um bicho escuro deu um
repulão, com um espirro, também dôido de susto! que era um
papa-mel, que eu vislumbrei; para fugir, esse está somente. Maior
sendo eu, me molhou meu cansaço; espichei tudo. E um pedacinho de
pensamento! se aquele bicho irara tinha jazido lá, então ali não
tinha cobra. Tomei o lugar dele. Existia cobra nenhuma. Eu podia me
largar. Eu era só mole, moleza, mas que não amortecia os trancos,
dentro, do coração. Arfei. Concebi que vinham, me matavam. Nem
fazia mal, me importei não. Assim, uns momentos, ao menos eu
guardava a licença de prazo para me descansar. Conforme pensei em
Diadorim. Só pensava era nele. Um joão-congo cantou. Eu queria
morrer pensando em meu amigo Diadorim, mano-oh-mão, que estava na
Serra do Pau-d’Arco, quase na divisa baiana, com nossa outra metade
dos sô-candelários... Com meu amigo Diadorim me abraçava,
sentimento meu ia-voava reto para ele... Ai, arre, mas: que esta
minha boca não tem ordem nenhuma. Estou contando fora, coisas
divagadas. No senhor me fio? Até-que, até-que. Diga o
anjo-da-guarda... Mas, conforme eu vinha: depois se soube, que mesmo
os soldados do Tenente e os cabras do Coronel Adalvino remitiram de
respeitar o assopro daquele Joé Cazuzo. E que esse acabou sendo o
homem mais pacificioso do mundo, fabricador de azeite e sacristão,
no São Domingos Branco. Tempos!
Fala
de Riobaldo, in Grande sertão: veredas, de Guimarães
Rosa
De pombos e de gatos
Um
dos meus grandes encantos em Florença, onde, em 1952, passei cerca
de um mês, era ver da janela do meu quinto andar, no Hotel
Nazionale, a madrugada toscana romper sobre a piazza Santa Maria
Novella. Habituei-me de tal modo a isso que, nos meus hábitos de
noctâmbulo, esticava a noite até o amanhecer, só pelo prazer de
ver a luz rósea do sol florentino descobrir e incendiar os mármores
da fachada da igreja de Santa Maria Novella, bem como o claustro
verde que fica à sua esquerda e as elegantes arcadas do fundo, onde
existem as terracotas de Andrea e Giovanni della Robbia. Mas o prazer
desse minuto de luz acabaria por resultar monótono, não se lhe
seguisse um dos mais extraordinários divertissements a que já me
foi dado assistir, misto de balé, cinema e circo romano, sem falar
que cheio de ensinamentos sobre a vida e arte de viver perigosamente.
O
caso é que, aos primeiros vestígios de luz, começava-se a ouvir
por ali em torno um brando ruflar de asas que, com o despontar do
Sol, crescia num espesso burburinho ao qual vinham se unir doces
arrulhos. E o ambiente, em suas cores rosa, verde, laranja e
terracota, adquiria uma maciez de plumas; e logo asas brancas e
trigueiras começavam a tatalar em largos voos e algumas desciam em
voos rasantes; e toda uma população de pombos, habitantes daqueles
mil escaninhos, como só pode proporcionar a arquitetura antiga,
vinha pousar na praça.
A
coisa ficava assim por uns poucos minutos; e em breve apareciam,
infalivelmente, no belo logradouro, três padres e cinco gatos. Cabe
dizer, em nome da verdade, que os padres chegavam bem menos
sorrateiramente que os gatos e, estou certo, com intenções muito
menos maléficas; pois se vinham os padres para se aquecer um pouco
ao sol e ler seus breviários, os gatos surgiam, esgueirando-se das
ruas laterais, para cumprir uma fatalidade do seu destino, que é de
comer pombos. E com a malícia que lhes é peculiar, colocavam-se
pacientemente em posições estratégicas, sob automóveis encostados
ao meio-fio, à espera do momento azado para o bote.
Deus
sabe que, entre gatos e pombos, eu sou francamente pela primeira
espécie. Acho os pombos um povo horrivelmente burguês, com o seu ar
bem-disposto e contente da vida, sem falar na baixeza de certas
características de sua condição, qual seja a de, eventualmente, se
entredevorarem quando engaiolados. Mas no caso especial da piazza de
Santa Maria Novella, devo confessar que era torcida incondicional dos
pombos; e só passei a torcer pelos gatos no final, quando,
defrontado com a realidade de sua terrível humilhação, e provável
neurose subsequente, achei que não faria nenhuma falta à comunidade
a desaparição de uma meia dúzia de columbinos, em beneficio do
sistema nervoso dos pobres gatos. Pois era quase doloroso ver o
fracasso constante de suas desesperadas tentativas de caçar um
pombinho que fosse. E garanto que eles empregavam todas as técnicas
tradicionais dos gatos, desde a paciente emboscada, até a carreira
às cegas, com saltos desordenados para todos os lados.
Tudo
em vão. Porque, a cada arremetida, os pombos limitavam-se a dar
pequenos voos que criavam verdadeiros túneis para os gatos, que os
percorriam em furiosas e inúteis investidas. E o pior é que cada
pombo, passado o rojão, pousava como se nada tivesse havido, e
continuava na sua estúpida ciscação do chão da praça, na mais
total indiferença diante de seu velho inimigo. Coisa que,
positivamente, devia deixar os gatos loucos. Haja visto um que um dia
eu vi, depois de numerosos ataques frustrados, a morder como um
possesso o pneu de um Chevrolet, e por cuja sanidade mental não
poria da maneira alguma a mão na Bíblia.
Vinicius
de Moraes, in Para viver um grande amor
Seu belo ser
“Todo
o resto do seu belo ser - os seus olhos tristes; os seus miraculosos
lábios; a sua grande língua rosada; as faces aveludadas; os ombros
bem delineados; a pele sedosa da sua garganta, do peito, do pescoço
e do ventre; as pernas longas; os pés delicados, cuja visão sempre
me fizera sorrir; os seus esguios braços cor de mel, cheios de
sinais e com uma penugem acastanhada; a curva das suas nádegas; e a
sua alma, que sempre me atraíra a si - permaneceu intacto.”
Orhan
Pamuk, in O museu da inocência
domingo, 29 de novembro de 2015
Língua desconhecida
Num
conto que nunca cheguei a publicar acontece o seguinte: uma mulher,
em fase terminal de doença, pede ao marido que lhe conte uma
história para apaziguar as insuportáveis dores. Mal ele inicia a
narração, ela o faz parar:
—
Não,
assim não. Eu quero que me fale numa língua desconhecida.
—
Desconhecida?
— pergunta
ele.
—
Uma
língua que não exista. Que eu preciso tanto de não compreender
nada!
O
marido se interroga: como se pode saber falar uma língua que não
existe? Começa por balbuciar umas palavras estranhas e sente-se
ridículo como se a si mesmo desse provas da incapacidade de ser
humano. Aos poucos, porém, vai ganhando mais à-vontade nesse idioma
sem regra. E ele já não sabe se fala, se canta, se reza. Quando se
detém, repara que a mulher está adormecida, e mora em seu rosto o
mais tranquilo sorriso. Mais tarde, ela lhe confessa: aqueles
murmúrios lhe trouxeram lembranças de antes de ter memória. E lhe
deram o conforto desse mesmo sono que nos liga ao que havia antes de
estarmos vivos.
Na
nossa infância, todos nós experimentamos este primeiro idioma, o
idioma do caos, todos nós usufruímos do momento divino em que a
nossa vida podia ser todas as vidas e o mundo ainda esperava por um
destino. James Joyce chamava de “caosmologia” a esta relação
com o mundo informe e caótico. Essa relação, meus amigos, é
aquilo que faz mover a escrita, qualquer que seja o continente,
qualquer que seja a nação, a língua ou o gênero literário.
Mia
Couto,
in E
se Obama fosse africano?
Amor imorredouro
Com
a minha mania de andar de táxi, entrevisto todos os choferes com
quem viajo. Uma noite dessas viajei com um espanhol ainda bem moço,
de bigodinho e olhar triste. Conversa vai, conversa vem, ele me
perguntou se eu tinha filhos. Perguntei-lhe se ele também tinha,
respondeu que não era casado, que jamais se casaria. E contou-me sua
história. Há catorze anos amou uma jovem espanhola, na terra dele.
Morava numa cidade pequena, com poucos médicos e recursos. A moça
adoeceu, sem que ninguém soubesse de quê, e em três dias morreu.
Morreu consciente de que ia morrer, predizendo: “Vou morrer em teus
braços.” E morreu nos braços dele, pedindo: “Que Deus me
salve.” O chofer durante três anos mal conseguia se alimentar. Na
cidade pequena todos sabiam de sua paixão e queriam ajudá-lo.
Levavam-no para festas, onde as moças, em vez de esperar que ele as
tirasse para dançar, pediam-lhe para dançar com elas.
Mas
de nada adiantou. O ambiente todo lembrava-lhe Clarita – este é o
nome da moça morta, o que me assustou porque era quase meu nome e
senti-me morta e amada. Então resolveu sair da Espanha e nem avisar
aos pais. Informou-se de que só dois países na época recebiam
imigrantes sem exigir carta de chamada: Brasil e Venezuela.
Decidiu-se pelo Brasil. Aqui enriqueceu. Teve uma fábrica de
sapatos, vendeu-a depois; comprou um bar-restaurante, vendeu-o
depois. É que nada importava. Resolveu transformar seu carro de
passeio em carro de praça e tornou-se chofer. Mora numa casa em
Jacarepaguá, porque “lá tem cachoeiras de água doce (!) que são
lindas”. Mas nesses catorze anos não conseguiu gostar de nenhuma
mulher, e não tem “amor por nada, tudo dá no mesmo para ele”.
Com delicadeza o espanhol deu a entender que no entanto a saudade
diária que sente de Clarita não atrasa sua vida, que ele consegue
ter casos e variar de mulheres.
Mas
amar – nunca mais.
Bom.
Minha história termina de um modo um pouco inesperado e assustador.
Estávamos
quase chegando ao meu ponto de parada, quando ele falou de novo na
sua casa em Jacarepaguá e nas cachoeiras de água doce, como se
existissem de água salgada. Eu disse meio distraída: “Como
gostaria de descansar uns dias num lugar desses.” Pois calha que
era exatamente o que eu não devia ter dito. Porque, sob o risco de
enveredar com o carro por alguma casa adentro, ele subitamente virou
a cabeça para trás e perguntou-me com a voz carregada de intenções:
“A senhora quer mesmo?! Pois pode vir!” Nervosíssima com a
repentina mudança de clima, ouvi-me responder depressa e alto que
não podia porque ia me operar e “ficar muito doente”(!). Dagora
em diante só entrevistarei os choferes bem velhinhos. Mas isso prova
que o espanhol é um homem sincero: a saudade intensa por Clarita não
atrasa mesmo sua vida.
O
final dessa história desilude um pouco os corações sentimentais
Muita gente gostaria que o amor de catorze anos atrasasse e muito a
sua vida. A história ficaria melhor. Mas é que não posso mentir
para agradar vocês. E além do mais acho justo que a vida dele não
fique totalmente atrasada. Já basta o drama de não conseguir amar
ninguém mais.
Esqueci
de dizer que ele também me contou histórias de negócios comerciais
e de desfalques – a viagem era longa, o tráfego péssimo. Mas
encontrou em mim ouvidos distraídos. Só o que se chama de amor
imorredouro tinha me interessado. Agora estou me lembrando vagamente
do desfalque. Talvez, concentrando-me, eu me lembre melhor, e conte
no próximo sábado. Mas acho que não interessa.
Clarice
Lispector,
in A
descoberta do mundo
Incendiar navios
“Estou
relendo o trecho em que o professor Schianberg se ocupa da separação
dos amantes. As transitórias e as irremediáveis. Ele menciona um
maluco norueguês que afundou um navio como oferenda pela volta da
amada. O problema é que o navio não era dele, e deu cadeia. Eu
afundaria todos os navios nesta noite, Lavínia. Incendiaria o porto.
Só para ver o brilho das chamas refletido nos seus olhos escuros.”
Marçal
Aquino,
in Eu
receberia as piores notícias de seus lindos lábios
O lutador
Lutar
com palavras
é
a luta mais vã.
Entanto
lutamos
mal
rompe a manhã.
São
muitas, eu pouco.
Algumas,
tão fortes
como
um javali.
Não
me julgo louco.
Se
o fosse, teria
poder
de encantá-las.
Mas
lúcido e frio
apareço
e tento
apanhar
algumas
para
meu sustento
num
dia de vida.
Deixam-se
enlaçar,
tontas
à carícia
e
súbito fogem
e
não há ameaça
e
nem há sevícia
que
as traga de novo
ao
centro da praça.
Insisto,
solerte.
Busco
persuadi-las.
Ser-lhes-ei
escravo
de
rara humildade.
Guardarei
sigilo
de
nosso comércio.
Na
voz, nenhum travo
de
zanga ou desgosto.
Sem
me ouvir deslizam,
perpassam
levíssimas
e
viram-me o rosto.
Lutar
com palavras
parece
sem fruto.
Não
têm carne e sangue...
Entretanto,
luto.
Palavra,
palavra
(digo
exasperado),
se
me desafias,
aceito
o combate.
Quisera
possuir-te
neste
descampado,
sem
roteiro de unha
ou
marca de dente
nessa
pele clara.
Preferes
o amor
de
uma posse impura
e
que venha o gozo
da
maior tortura.
Luto
corpo a corpo,
luto
todo o tempo,
sem
maior proveito
que
o da caça ao vento.
Não
encontro vestes,
não
seguro formas,
é
fluido inimigo
que
me dobra os músculos
e
ri-se das normas
da
boa peleja.
Iludo-me
às vezes,
pressinto
que a entrega
se
consumará.
Já
vejo palavras
em
coro submisso,
está
me ofertando
seu
velho calor,
outra
sua glória
feita
de mistério,
outra
seu desdém,
outra
seu ciúme,
e
um sapiente amor
me
ensina a fruir
de
cada palavra
a
essência captada,
o
sutil queixume.
Mas
ai! é o instante
de
entreabrir os olhos:
entre
beijo e boca,
tudo
se evapora.
O
ciclo do dia
ora
se conclui
e
o inútil duelo
jamais
se resolve.
O
teu rosto belo,
ó
palavra, esplende
na
curva da noite
que
toda me envolve.
Tamanha
paixão
e
nenhum pecúlio.
Cerradas
as portas,
a
luta prossegue
nas
ruas do sono.
Carlos
Drummond de Andrade
O grande homem é cético
“Todo
o grande homem é, necessariamente, cético, ainda que possa não o
mostrar: pelo menos se a grandeza dele consistir em querer uma coisa
grande e grandes meios para realizá-la. A liberdade em relação a
todas as convicções faz parte da sua vontade: o que está em
conformidade com o despotismo
esclarecido
que todas as grandes paixões exercem. Uma paixão dessa espécie põe
o intelecto ao seu serviço e tem a coragem de fazer uso até de
certos meios proibidos - dos quais se serve, mas aos quais não se
submete.
A
necessidade de crer, a necessidade de um sim
e
de um não
absolutos
é sinal de fraqueza, e toda a fraqueza é uma fraqueza da vontade. O
homem de fé, o crente é, necessariamente, de uma espécie inferior;
disso resulta a liberdade de espírito, ou seja, a descrença
instintiva: uma condição de grandeza.”
Friedrich
Nietzsche,
in
A Vontade de Poder
sábado, 28 de novembro de 2015
Freios aos delitos
“Um
dos maiores freios aos delitos não é a crueldade das penas, mas sua
infalibilidade e, em consequência, a vigilância dos magistrados e a
severidade de um juiz inexorável, a qual, para ser uma virtude útil,
deve vir acompanhada de uma legislação suave. A certeza de um
castigo, mesmo moderado, causará sempre a impressão mais intensa
que o temor de outro mais severo, aliado à esperança de impunidade;
pois os males, mesmo os menores, se são inevitáveis, sempre
espantam o espírito humano, enquanto a esperança, dom celestial que
frequentemente tudo supre em nós, afasta a ideia de males piores,
principalmente quando a impunidade, concedida amiúde pela venalidade
e pela fraqueza, fortalece a esperança. A própria atrocidade da
pena faz com que tentemos evitá-la com uma ousadia tanto maior
quanto maior é o mal em que incorremos e leva a cometer outros
delitos mais para escapar a pena de um só. Os países e os tempos em
que se infligiam os suplícios mais atrozes sempre foram aqueles das
ações mais sanguinárias e desumanas, pois o mesmo espírito de
ferocidade que guiava a mão do legislador conduzia a do parricida e
do sicário. Do trono, esse espírito ditava leis férreas a ânimos
torturados de escravos, que obedeciam; na escuridão do privado,
estimulava a imolação dos tiranos para criar outros novos.”
Cesare
Beccaria,
in Do delito e das
penas
A grã-fina de Copacabana
Sarita
olhava distraída o trânsito colorido que descia pela Avenida N. S.
de Copacabana. Aquele rio de carros que corria em direção ao centro
da cidade e ali engrossava depois de receber todos os seus afluentes
os carros que vinham do Leblon, via Posto 6, os que vinham de
Ipanema, via Lagoa, os que vinham do Bairro Peixoto e das muitas ruas
transversais.
Acendeu
um cigarro já impaciente e continuou na janela. Estava no oitavo
andar de um edifício do Lido, onde o eminente Dr. Teódulo de
Carvalho tinha o seu consultório e sua clínica; uma clínica muito
bem montada para padronizar os narizes de moças ricas que tinham em
seus respectivos apêndices nasais o centro de seus complexos, ou
para esticar as pelancas de velhotas ociosas para as quais a velhice
era um fantasma constante, muito mais constante durante o dia, quando
suas rugas eram mais evidentes, do que durante a noite, quando
costumam ser mais constantes os fantasmas de um modo geral. Em suma:
o Dr. Teódulo de Carvalho era um afamado cirurgião plástico que
enriquecera e envelhecera explorando a vaidade das grã-finas do café
society tornando-se um desses médicos que consideram o consultório
a coisa mais importante da Medicina.
Seu
consultório era no quarto andar e sua garçonnière no oitavo.
Sarita
estava no oitavo andar, justamente na garçonnière do Dr. Teódulo,
porque Sarita era amante dele e muito mais gente do que ela imaginava
— como é comum nesses casos — sabia disso. E Sarita estava
impaciente porque Téo não chegava.
Marcaram
às 2 hs e ficariam apenas uma hora, pois ele desceria às 3, como de
hábito, para a primeira consulta. Já eram 2 e 15 — confirmou ela
olhando o seu reloginho de platina e brilhantes — e nada dele
chegar.
Foi
ai que Sarita viu um carro se destacar no meio dos outros e parar bem
em frente ao prédio onde ela se encontrava. Era um modelo Fiat
especial de carroceria moderna, uma gracinha de carro — ela pensou,
porque além de entender de carros, Sarita era tarada por carros
esporte.
Súbito,
Sarita estranhou! Mas era ele, o Dr. Teódulo que descia do carro.
Retirou os óculos escuros para ver melhor e logo seus olhos se
fecharam contra a claridade, mas Sarita forçou a vista, seus olhos
foram se abrindo aos poucos para confirmar não somente a presença
de Téo junto ao carro como também a de Zizi, na direção. Sarita
ficou mais abismada ainda. Zizi — Zilda de Carvalho — era a
mulher dele e os dois se falavam e ela sorria. Téo estava na calçada
e dizia qualquer coisa à mulher.
Ela
respondeu, fez um aceno com a mão, o carro movimentou-se e vagou
outra vez pelo caudaloso rio que, logo adiante, pegaria seu último
afluente, vindo do Leme, e se espremeria dentro dos túneis, fiel ao
seu leito — coisa que Sarita jamais fora — para escoar-se como
sempre na Esplanada do Castelo.
O
Dr. Teódulo virou-se e entrou no prédio. Sarita virou-se e entrou
no quarto, colocando os óculos escuros sobre um móvel e olhando-se
no espelho, onde ajeitou a pintura com a ponta do dedo médio da mão
direita. Parou, olhou-se mais atentamente no espelho. Estava linda!
Sentou-se
na beira da cama, fuzilando de raiva, para esperar a chegada do
amante.
Barulho
de chaves na fechadura, a porta abriu-se e o eminente Dr. Teódulo de
Carvalho entrou esbaforido:
— Minha
querida, desculpe... eu tive um almoço…
—
Divertiu-se muito com ela?
— Ela
quem? — espantou-se ele, enquanto colocava o paletó no espaldar de
uma cadeira e começava a afrouxar o laço da gravata.
— Sua
mulher! Você pensa que eu não vi vocês dois chegando juntos lá
embaixo?
— Mas
Sarita, a Zizi ia ajudar na preparação do chá da ABBR hoje, rio
Copa...
— Ora,
Téo... Francamente, você me deixa plantada aqui horas e quando
chega vem todo sorridente com sua mulher. Às vezes eu penso que você
preferia trocar...
— Está
calor aqui — disse ele, já nu da cintura para cima.
Fechou
a guilhotina da janela onde estivera Sarita espiando, e ligou a
refrigeração.
— ...
talvez você preferisse ser casado comigo e ter a Zizi como amante.
Ele abraçou-a pela cintura e tentou desabotoar seu vestido por trás
do ousado decote das costas, enquanto falava carinhosamente:
—
Denguinho, deixa de coisa. Ela só me
trouxe aqui. Você sabe que meu carro está na oficina. Ela me trouxe
no dela.
Sarita
esquivou-se, quando ele falou no carro dela. — Carro novo, não é?
— É . . . realmente o carro... Mas Sarita não o deixou terminar:
— E
você tinha me prometido um carro, não tinha? Deu pra mim? Não, deu
pra ela.
—Mas
foi ela que comprou!
— E
foi você que pagou — arrematou ela, em cima do argumento dele.
Téo
estava sentado na beira da cama, tirando os sapatos. Como todo
grã-fino que se preza, cuidava-se. Seu corpo era queimado de sol,
ele fazia massagem regularmente, tomava sauna. Nos seus quarenta e
poucos anos, era um homem enxuto. Estava decidido a não brigar:
— Você
está com ciúmes dela ou do carro — levantou-se e abraçou-a outra
vez. Segurou-lhe. o queixo e virou-lhe o rosto em direção a seu
olhar:
— Hem?
— Dos
dois — respondeu Sarita, mais calma. — Dela não precisa ter
ciúmes, Denguinho. Ela é que devia ter ciúmes de você...
Sarita
envolveu o pescoço dele num abraço: — Mas ela ganhou um carro,
né? — sua voz agora era infantil.
Téo
puxou-a para junto da cama, onde sentou-se com ela no colo:
—
Denguinho, aquele carro custa muito caro.
Não é pelo dinheiro, você sabe. Mas eu não poderia dar um carro
daqueles para você. Como é que você explicaria a Eduardo?
Enquanto
os dois se beijavam longamente, expliquemos que Eduardo era o marido
de Sarita, também grã-fino, também frequentador das mesmas rodas
que Téo frequentava, mas que não era tão rico como Téo. Apenas um
dos muitos frequentadores dessas rodas, vivendo de comissões, hoje
ganhando muito dinheiro aqui para poder cobrir as dívidas ali, num
trapézio constante para aguentar um padrão de vida que não era o
seu.
O
médico conseguira afinal desprender o vestido da amante e ela saltou
de dentro dele só de calcinhas e sutiã, levantando-se do colo de
Téo para entrar no banheiro anexo ao quarto. De lã falava para ele
escutar:
— E
se eu arrumasse um jeito para tapear o Edu, você me daria um carro
igual ao da Zizi?
Téo
levantara-se, colocara o vestido dela esticado sobre um móvel e
tirara as calças, ficando apenas com a sunga de nylon. Respondeu
evasivamente:
— Mas
meu bem, aquele carro não é de série. Deve ser o único existente
no Brasil.
— É
o que você pensa. — Sarita apareceu na porta do banheiro, enrolada
numa toalha estampada. — Eu sei quem tem um igualzinho.
— Quem?
— O
Cid.
— Que
Cid? — intrigou-se Téo, mas puxando-a para a cama, enquanto ela
explicava quem era Cid. Um playboy de São Paulo que agora estava
morando no Rio, aquele que no aniversário da Betty tomara o maior
pifa e caíra na piscina com smoking e tudo.
— Você
se lembra? — e Sarita levantou o busto, fincou o cotovelo na cama e
ficou semi-recostada, olhando para Téo. Ele fingia estar mais
interessado nela do que no tal de Cid. Puxou-a outra vez para junto
de si e beijou-a na boca. Terminado o beijo, Sarita voltou à carga:
— A
irmã do Cid é minha amiga. Também está morando no Rio, casou-se
com um engenheiro da SURSAN. Ela foi tomar um chá comigo noutro dia.
Disse que a família do Cid está muito preocupada com ele. O pai
está querendo cortar a mesada, porque ele é um gastador. Ele é
noivo cm São Paulo e vai casar breve. Deve estar precisando de
dinheiro, não acha?
—
Hum-hum — gemeu Téo.
—
Então! É capaz de vender o carro. Aí
você compra pra mim e eu dou um jeito de dobrar o Edu, tá?
— Tá.
E
Téo desenrolou a toalha que envolvia Sarita, abraçou-a e — nessa
tarde — não se falou mais nisso. Nem era assunto para ser debatido
enquanto eles faziam o que fizeram.
Com
franqueza, nenhum assunto cabe, em tais momentos.
Sérgio
Porto, in As cariocas
Assinar:
Comentários (Atom)