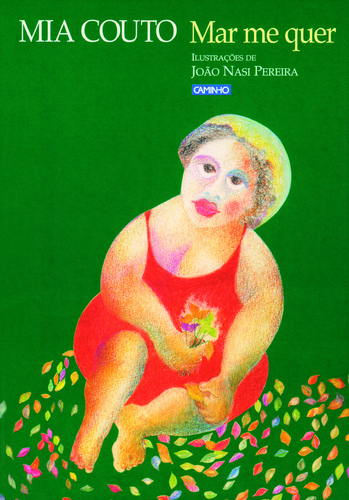
Deus
é assunto delicado de pensar, faz conta um ovo: se apertarmos com
força parte-se, se não seguramos bem cai. (Dito do avô
Celestiano, reinventando um velho provérbio macua)
Sou
feliz só por preguiça. A infelicidade dá uma trabalheira pior que
doença: é preciso entrar e sair dela, afastar os que nos querem
consolar, aceitar pêsames por uma porção da alma que nem chegou a
falecer.
—
Levanta, ó dono das preguiças.
É
o mando de minha vizinha, a mulata Dona Luarmina. Eu respondo:
—
Preguiçoso? Eu ando é a embranquecer as
palmas das mãos.
—
Conversa de malandro...
— Sabe
uma coisa, Dona Luarmina? O trabalho é que escureceu o pobre do
preto. E, afora isso, eu só presto é para viver...
Ela
ri com aquele modo apagado dela. A gorda Luarmina sorri só para dar
rosto à tristeza.
—
Você, Zeca Perpétuo, até parece
mulher...
—
Mulher, eu?
— Sim,
mulher é que senta em esteira. Você é o único homem que eu vi
sentar na esteira.
— Que
quer, vizinha? Cadeira não dá jeito para dormir.
Ela
se afasta, pesada como pelicano, abanando a cabeça. Minha vizinha
reclama não haver homem com miolo tão miúdo como eu. Diz que nunca
viu pescador deixar escapar tanta maré:
— Mas
você, Zeca: é que nem faz ideia da vida.
— A
vida, Dona Luarmina? A vida é tão simples que ninguém a entende. É
como dizia meu avô Celestiano sobre pensarmos Deus ou não-Deus...
Além
disso, pensar traz muita pedra e pouco caminho. Por isso eu, um
reformado do mar o que me resta fazer? Dispensado de pescar, me
dispenso de pensar. Aprendi nos muitos anos de pescaria: o tempo anda
por ondas. A gente tem é que ficar levezinho e sempre apanha boleia
numa dessas ondeações.
— Não
é verdade, Dona Luarmina? A senhora sabe essas línguas da nossa
gente. Me diga, minha Dona: qual é a palavra para dizer futuro?
Sim,
como se diz futuro? Não se diz, na língua deste lugar de África.
Sim, porque futuro é uma coisa que existindo nunca chega a haver.
Então eu me suficiento do atual presente. E basta.
— Só
eu quero é ser um homem bom, Dona.
— Você
é mas é um aldrabom.
A
gorda mulata não quer amolecer conversa. E tem razão, sendo minha
vizinha desde há tanto. Ela chegou ao bairro depois da morte de meus
pais, quando herdei a velha casa da família.
Nessa
altura, eu ainda pescava em longas viagens, semanas de ausência nos
bancos de Sofala. Nem notava a existência de Luarmina. Também ela,
logo que desembarcou, se internou na Missão, em estágio para
freira. Ficou enclausurada nessas penumbras onde se murmura conversa
com Deus.
Só
uns anos mais tarde ela saiu dessa reclusão. E se instalou na casa
que os padres lhe destinaram, bem junto à minha morada. Luarmina
costureirava — era seu sustento.
Nos
primeiros tempos, ela continuava sem se dar às vistas. Só as
mulheres que entravam em seus domínios é que lhe davam conta. No
resto, me chegavam apenas os perfumes de sua sombra.
Um
dia o padre Nunes me falou de Luarmina, seus brumosos passados. O pai
era um grego, um desses pescadores que arrumou rede em costas de
Moçambique, do lado de lá da baía de S. Vicente. Já se
antigamentara há muito. A mãe morreu pouco tempo depois. Dizem que
de desgosto. Não devido da viuvez, mas por causa da beleza da filha.
Ao que parece, Luarmina endoidava os homens graúdos que abutreavam
em redor da casa. A senhora maldizia a perfeição de sua filha.
Diz-se que, enlouquecida, certa noite intentou de golpear o rosto de
Luarmina. Só para a esfeiar e, assim, afastar os candidatos.
Depois
da morte da mãe, enviaram Luarmina para o lado de cá, para ela se
amoldar na Missão, entregue a reza e crucifixo. Havia que arrumar a
moça por fora, engomá-la por dentro. E foi assim que ela se dedicou
a linhas, agulhas e dedais. Até se transferir para sua atual
moradia, nos arredores de minha existência.
Só
bem depois de me retirar das pescarias é que dei por mim a encostar
desejos na vizinha. Comecei por cartas, mensagens à distância. À
custa de minhas insistências namoradeiras, Luarmina já aprendera as
mil defesas. Ela sempre me desfazia os favores, negando-se.
— Me
deixa sossegada, Zeca. Não vê que eu já não desengomo lençol?
— Que
ideia, Dona vizinha?! Quem lhe disse que eu tinha essa intenção?
Todavia,
ela tem razão. Minhas visitas são para lhe caçar um descuido na
existência, beliscar-lhe uma ternura. Só sonho sempre o mesmo: me
embrulhar com ela, arrastado por essa grande onda que nos faz
inexistir. Ela resiste, mas eu volto sempre ao lugar dela.
— Dona
Luarmina, o que é isso? Parece ficou mesmo freira. Um dia, quando o
amor lhe chegar, você nem o vai reconhecer...
—
Deixe-me, Zeca. Eu sou velha, só preciso
é um ombro.
Confirmando
esse atestado de inutensílio, ela esfrega os joelhos como se fossem
eles os culpados do seu cansaço. As pernas dela, da maneira como
incham, dificultam as vias do sangue. Lhe icebergam os pés, a gente
toca e são blocos de gelo. E ela sempre se queixa. Um dia,
aproveitei para me oferecer:
— Quer
que lhe aqueça os pés?
Arrepiando
expectativa, ela até aceitou. Até eu fiquei assim, meio desfisgado,
o coração atropelando o peito.
— Me
aquece, Zeca?
— Sim,
aqueço mas... pela parte de dentro.
Tentava
um deslize na defesa dela. Mas levei tampa. Eu estava como essoutro
que foi lavar a mão e sujou o sabão. Ou aquele que queria acertar a
unha e cortou o dedo.
Com
esta minha idade eu já devia conhecer os devidos procedimentos, as
delicadas tácticas de abordagem. Mas não. Meu falecido avô sempre
dizia: — Em novos só nos ensinam o que não serve. Em velhos só
aprendemos o que não presta.
Mas
é pena eu e a vizinha não nos simetricarmos. Porque ambos somos
semiviúvos: nunca tivemos companheiro, mas esse parceiro, mesmo
assim, desapareceu. Sou mais novo que ela, mas já estamos ambos na
encosta de lá em que a vida só mexe quando é a descer.
Hoje
sei como se mede a verdadeira idade: vamos ficando velhos quando não
fazemos novos amigos. Estamos morrendo a partir do momento em que não
mais nos apaixonamos.
E
até que Dona Luarmina, aliás Albertina da Conceição
Melistopolous, já foi bela de espantar a homenzarrada. Sei isso
porque testemunhei um flagrante dessa formosura dela. Foi uma certa
vez que não fiquei só na varanda. Entrei em sua casa, sentei na
sala grande com janela para o mar. Foi então que eu vi a fotografia.
Era de uma moça de espantável beleza, corpo de aguar as mais mornas
bocas.
— Quem
é essa?
— Sou
eu, quando era nova. Antes de chegar aqui...
Me
levantei, já em vias de tocar a foto. Mas ela, secamente, emendou a
visão minha, vertendo a moldura sobre a mesa. E ali ficou, para os
restantes dias, aquele retrato deitado de costas para a luz. Eu bem
tentava espreitar, da janela, a imagem da sua antiga beleza. Em vão.
Restava-me
a presente figura de Luarmina, gorda e engordurada. A mulher, por
razões de angústia, se deixara acumular, quilos sobre o peso. Eu
entendo: uma boa maneira de esconder a tristeza é cobrirmo-nos de
carne. O sofrimento é fatal quando atinge os ossos. Chegada aí, a
tristeza se apressa em virar esqueleto. Sábio é dar cobertura ao
corpo, intermediar gordurosas fronteiras.
Às
vezes, ainda relampeja nela alguma infância. Então, ela tenta
brincar-me, espicaçar-me uma ciumeira.
— Uma
vez, um homem me chamou de dólingui.
—
Dólingui?
—
Dólingui ou darilingue. Era um
estrangeiro de fora.
— O
que é isso, darilingue? Tenho muitos nomes bastante melhores que
esses, não quer ouvir Dona vizinha?
— Não
quero. Desculpa, Zeca, mas agora já não quero. Me custa já ter um
nome quanto mais muitos...
Já
faz anos que rondopio à volta da viúva. Arrisco mesmo perder
plumagens nessa insistência. Contudo estou arrastando asa em nenhum
chão: minhas penas só roçam aragens.
A
estratégia é lhe contar minhas aventuras: invento feitos passados
em minhas atribulações marinhas. Mas não são aventuras que a
fazem sonhiscar. O que Dona Luarmina me solicita são exactas
memórias. E isso é o que eu menos quero. Não é que me faltem
lembranças. Estão é espalhadas em toda a minha substância, até
nesse dedo que perdi nas fainas. Meu corpo foi-se tornando um
cemitério de tempo, parece um desses bosques sagrados onde
enterramos nossos mortos.
— Conte
como foi, quero as coisas que foram e como foram. Essas que nos põem
saudade...
Saudades,
em mim, nunca têm pressa. Demoram tanto que nunca chegam. Só quando
eu danço me liberto do tempo — esvoam as memórias, levantam voo
de mim. Eu devia era dançar todo o tempo, dançar para ela, dançar
com ela.
— Me
fale sobre o seu passado.
Meu
passado me pesa: minha infância morreu cedo, eu tive que carregar
esse peso morto em minha vida. Aos seis anos tomei lugar de meu avô
no barco, dois anos depois meu pai perdia o juízo e saía de casa,
cego e louco. Minha mãe, antes de morrer, me entregou na igreja. O
padre português Jacinto Nunes me educou em preceito de Deus e livro.
Mas eu queria era regressar ao mar e cedo troquei livro por rede.
Sempre entregando muito, recebendo pouco. Meu avô Celestiano culpava
meu pai dessa má sorte.
— Esse
meu filho Agualberto, cabisburro como é, meteu-se no mundo dos
brancos, nem abençoou o barco dele. Abandonou os antepassados?
Castigo é esse.
Insisto
com Dona Luarmina: ela não me peça lembranças. Eu quero matar o
passado, essa mulher tem que me deixar cometer esse crime. Caso senão
é o passado que me mata a mim.
— Você,
Zeca, tem raiva do passado, tem ciúme do futuro: vai viver só nos
agoras?
Reformado
das pescas, nem no presente tenho cabimento. Enquanto andava no mar,
embalado em meu barco, eu não sofria o tempo. Porque essa ondeação
era, afinal, uma dança. E a dança, já disse, é melhor maneira de
fugir do tempo.
— Venha
dançar, Doninha...
—
Dançar, eu? Com este corpo?
Ela
ri, envergonhada. Mas Luarmina não sabe: os que dançam ficam sem
corpo. Esperta é a árvore que não mexe e dança a sombra dela no
planeta inteiro.
— Dona
Luarmina não se lembra a Maria Bailarinha?
E
recordei essa moça do bairro, uma ajunta-brasas. Dançava que dava
tontura no mundo, a homenzoada ficava zarolha do miolo. Os pés dela,
todos descalços, machucavam o chão, eram pés de pilão mas nem
poeira levantavam: a terra comovida parecia aprazida desse batimento.
Maria Bailarinha dançava a pedido e a moeda. Lhe atiravam os
dinheiros e ela, de imediato, deflagrava seu corpo. Mesmo o padre
Jacinto Nunes comentava baixinho para a sua batina: — Até
Arquimedes haveria de flutuar, Santo Deus me valha!
Aconteceu
que, uma noite, ao roçar junto da fogueira, a capulana da dançarina
se fez em chama. Maria Bailarinha não parou de dançar. O povo
começou a gritar, em aviso. O fogo em redor das vestes se adensou e
ela não se detinha nem deixava que ninguém se achegasse. Estava
possuída pela vertigem, dançava já com a própria morte.
Até
que estancou, semelhando estar intacta e inteira. Quando a primeira
mão lhe tocou ela se desfez em cinza, poeirinha esvoando na brisa.
—
Lembra a Maria Bailarinha?
Nada.
Luarmina não responde. Terá sequer me escutado? Não há modo nem
maneira: Dona vizinha desconfia de desventuras dos outros. Só lhe
interessa as antiguidades de que fiz parte. E eu, para subterfugir,
aldrabo umas lembranças, desenrasco uns pensamentos. Até, um dia,
lhe perguntei: — Por que só minhas lembranças, as pessoais?
A
vizinha não respondeu. Antes, retrucou assim: — Bom, se lhe custa,
então, me conte uns sonhos...
Mas
eu que nem lembro nunca dos sonhos que me visitam enquanto durmo! É
que temos horários diferentes: eu e o sonho. E aviso: — Hão-de
ser sonhos falsificados...
— Não
importa.
E
teimei. Até porque traz má sorte recordar quem nos visitou durante
o sono. Assim, eu iria dar umas demãos de invenção nos meus
relatos. Quando não somos nós a inventar o sonho, é ele que nos
inventa a nós.
— Não
faz mal, Zeca Perpétuo. Hoje, eu até podia pagar para alguém me
contar os sonhos.
Riu-se,
em esboço. Mas era uma só tristeza molhada. Depois, deixei minha
vizinha em seu assento e fui regressando, em passo lento, a minha
casa. Luarmina se entranhou na sua pequena mania, como se
descosturasse um pano nenhum:
— Mar
me quer, bem me quer...
Este
era o cantochão de Luarmina, o infindo rameramejar dela. Todos fins
de tarde a mulata fica sentada, num degrau da varanda, e vai
desfolhando infinitas flores.
Ao
fim de um tempo, todo o pátio está forrado a pétalas, o chão
espantado a mil cores.
Mia
Couto, in Mar me quer

Nenhum comentário:
Postar um comentário