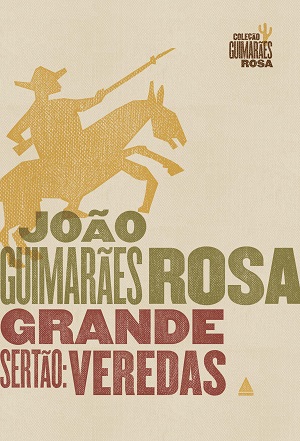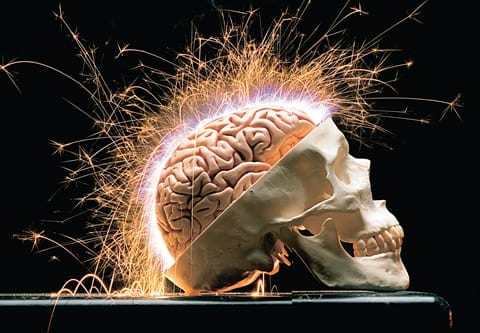Você
sempre pergunta pelas novidades daqui deste sertão, e finalmente
posso lhe contar uma importante. Fique o compadre sabendo que agora
temos aqui uma máquina imponente, que está entusiasmando todo o
mundo. Desde que ela chegou — não me lembro quando, não sou muito
bom em lembrar datas — quase não temos falado em outra coisa; e da
maneira que o povo aqui se apaixona até pelos assuntos mais
infantis, é de admirar que ninguém tenha brigado ainda por causa
dela, a não ser os políticos.
A
máquina chegou uma tarde, quando as famílias estavam jantando ou
acabando de jantar, e foi descarregada na frente da Prefeitura. Com
os gritos dos choferes e seus ajudantes (a máquina veio em dois ou
três caminhões) muita gente cancelou a sobremesa ou o café e foi
ver que algazarra era aquela. Como geralmente acontece nessas
ocasiões, os homens estavam mal-humorados e não quiseram dar
explicações, esbarravam propositalmente nos curiosos, pisavam-lhes
os pés e não pediam desculpa, jogavam pontas de cordas sujas de
graxa por cima deles, quem não quisesse se sujar ou se machucar que
saísse do caminho.
Descarregadas
as várias partes da máquina, foram elas cobertas com encerados e os
homens entraram num botequim do largo para comer e beber. Muita gente
se amontoou na porta mas ninguém teve coragem de se aproximar dos
estranhos porque um deles, percebendo essa intenção nos curiosos,
de vez em quando enchia a boca de cerveja e esguichava na direção
da porta. Atribuímos essa esquiva ao cansaço e à fome deles e
deixamos as tentativas de aproximação para o dia seguinte; mas
quando os procuramos de manhã cedo na pensão, soubemos que eles
tinham montado mais ou menos a máquina durante a noite e viajado de
madrugada.
A
máquina ficou ao relento, sem que ninguém soubesse quem a
encomendou nem para que servia. É claro que cada qual dava o seu
palpite, e cada palpite era tão bom quanto outro.
As
crianças, que não são de respeitar mistério, como você sabe,
trataram de aproveitar a novidade. Sem pedir licença a ninguém (e a
quem iam pedir?), retiraram a lona e foram subindo em bando pela
máquina acima — até hoje ainda sobem, brincam de esconder entre
os cilindros e colunas, embaraçam-se nos dentes das engrenagens e
fazem um berreiro dos diabos até que apareça alguém para
soltá-las; não adiantam ralhos, castigos, pancadas; as crianças
simplesmente se apaixonaram pela tal máquina.
Contrariando
a opinião de certas pessoas que não quiseram se entusiasmar, e
garantiram que em poucos dias a novidade passaria e a ferrugem
tomaria conta do metal, o interesse do povo ainda não diminuiu.
Ninguém passa pelo largo sem ainda parar diante da máquina, e de
cada vez há um detalhe novo a notar. Até as velhinhas de igreja,
que passam de madrugada e de noitinha, tossindo e rezando, viram o
rosto para o lado da máquina e fazem uma curvatura discreta, só
faltam se benzer. Homens abrutalhados, como aquele Clodoaldo seu
conhecido, que se exibe derrubando boi pelos chifres no pátio do
mercado, tratam a máquina com respeito; se um ou outro agarra uma
alavanca e sacode com força, ou larga um pontapé numa das colunas,
vê-se logo que são bravatas feitas por honra da firma, para manter
fama de corajoso.
Ninguém
sabe mesmo quem encomendou a máquina. O prefeito jura que não foi
ele, e diz que consultou o arquivo e nele não encontrou nenhum
documento autorizando a transação. Mesmo assim não quis lavar as
mãos, e de certa forma encampou a compra quando designou um
funcionário para zelar pela máquina.
Devemos
reconhecer — aliás todos reconhecem — que esse funcionário tem
dado boa conta do recado. A qualquer hora do dia, e às vezes também
de noite, podemos vê-lo trepado lá por cima espanando cada vão,
cada engrenagem, desaparecendo aqui para reaparecer ali, assoviando
ou cantando, ativo e incansável. Duas vezes por semana ele aplica
caol nas partes de metal dourado, esfrega, sua, descansa, esfrega de
novo — e a máquina fica faiscando como joia.
Estamos
tão habituados com a presença da máquina ali no largo, que se um
dia ela desabasse, ou se alguém de outra cidade viesse buscá-la,
provando com documentos que tinha direito, eu nem sei o que
aconteceria, nem quero pensar. Ela é o nosso orgulho, e não pense
que exagero. Ainda não sabemos para que ela serve, mas isso já não
tem maior importância. Fique sabendo que temos recebido delegações
de outras cidades, do estado e de fora, que vêm aqui para ver se
conseguem comprá-la. Chegam como quem não quer nada, visitam o
prefeito, elogiam a cidade, rodeiam, negaceiam, abrem o jogo: por
quanto cederíamos a máquina. Felizmente o prefeito é de confiança
e é esperto, não cai na conversa macia.
Em
todas as datas cívicas a máquina é agora uma parte importante das
festividades. Você se lembra que antigamente os feriados eram
comemorados no coreto ou no campo de futebol, mas hoje tudo se passa
ao pé da máquina. Em tempo de eleição todos os candidatos querem
fazer seus comícios à sombra dela, e como isso não é possível,
alguém tem de sobrar, nem todos se conformam e sempre surgem
conflitos. Felizmente a máquina ainda não foi danificada nesses
esparramos, e espero que não seja.
A
única pessoa que ainda não rendeu homenagem à máquina é o
vigário, mas você sabe como ele é ranzinza, e hoje mais ainda, com
a idade. Em todo caso, ainda não tentou nada contra ela, e ai dele.
Enquanto ficar nas censuras veladas, vamos tolerando; é um direito
que ele tem. Sei que ele andou falando em castigo, mas ninguém se
impressionou.
Até
agora o único acidente de certa gravidade que tivemos foi quando um
caixeiro da loja do velho Adudes (aquele velhinho espigado que passa
brilhantina no bigode, se lembra?) prendeu a perna numa engrenagem da
máquina, isso por culpa dele mesmo. O rapaz andou bebendo em uma
serenata, e em vez de ir para casa achou de dormir em cima da
máquina. Não se sabe como, ele subiu à plataforma mais alta, de
madrugada rolou de lá, caiu em cima de uma engrenagem e com o peso
acionou as rodas. Os gritos acordaram a cidade, correu gente para
verificar a causa, foi preciso arranjar uns barrotes e labancas para
desandar as rodas que estavam mordendo a perna do rapaz. Também
dessa vez a máquina nada sofreu, felizmente. Sem a perna e sem o
emprego, o imprudente rapaz ajuda na conservação da máquina,
cuidando das partes mais baixas.
Já
existe aqui um movimento para declarar a máquina monumento municipal
— por enquanto. O vigário, como sempre, está contra; quer saber a
que seria dedicado o monumento. Você já viu que homem mais azedo?
Dizem que a máquina já tem feito até milagre, mas isso — aqui
para nós — eu acho que é exagero de gente supersticiosa, e
prefiro não ficar falando no assunto. Eu — e creio que também a
grande maioria dos munícipes — não espero dela nada em
particular; para mim basta que ela fique onde está, nos alegrando,
nos inspirando, nos consolando. O meu receio é que, quando menos
esperarmos, desembarque aqui um moço de fora, desses despachados,
que entendem de tudo, olhe a máquina por fora, por dentro, pense um
pouco e comece a explicar a finalidade dela, e para mostrar que é
habilidoso (eles são sempre muito habilidosos) peça na garagem um
jogo de ferramentas, e sem ligar a nossos protestos se meta por baixo
da máquina e desande a apertar, martelar, engatar, e a máquina
comece a trabalhar. Se isso acontecer, estará quebrado o encanto e
não existirá mais máquina.
José
J. Veiga,
in Os
cem melhores contos brasileiros do século