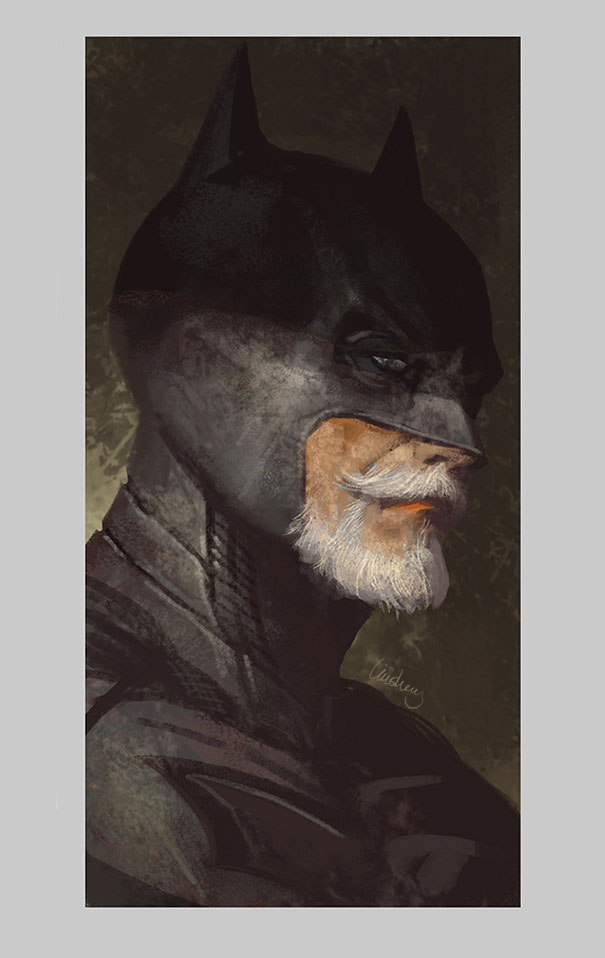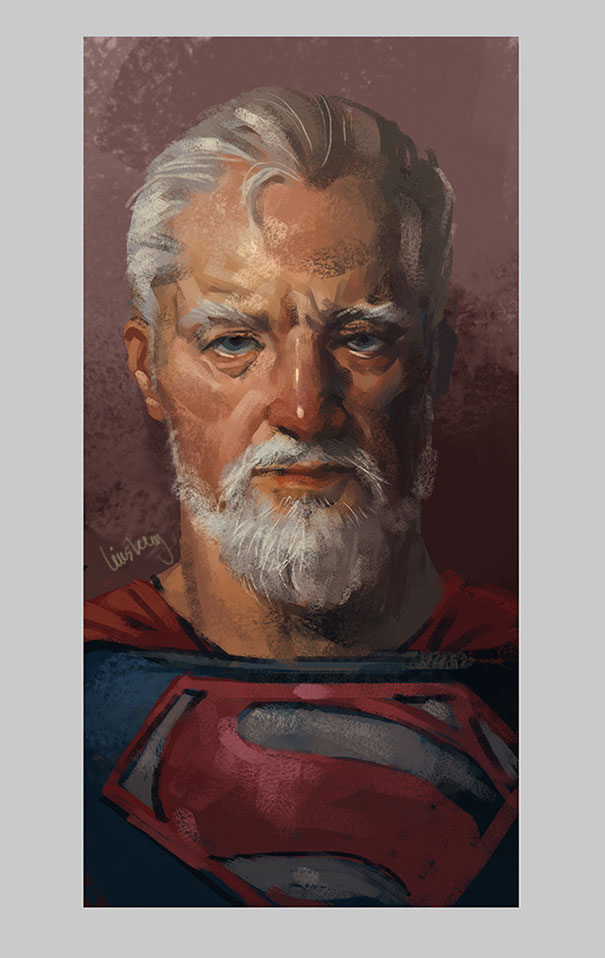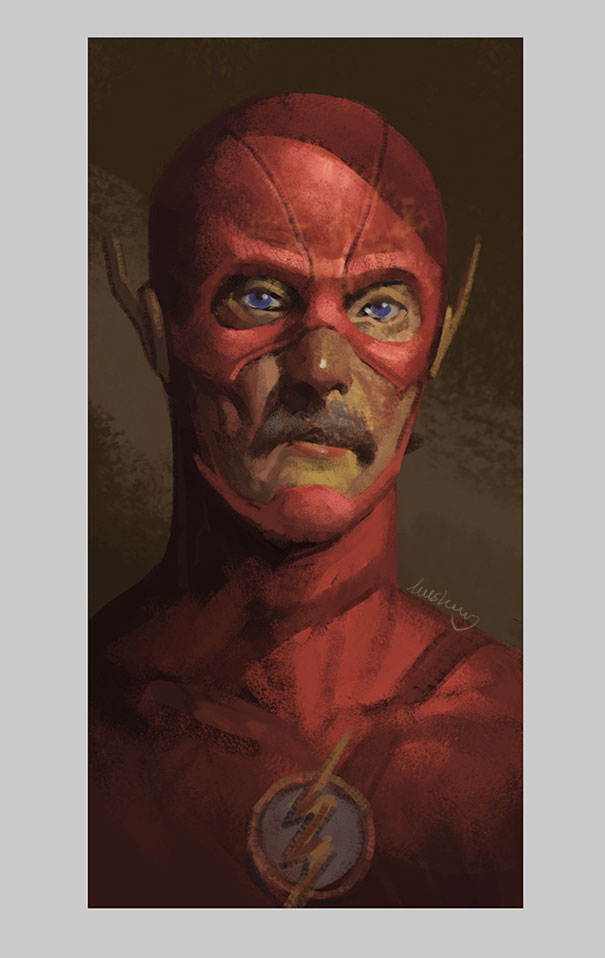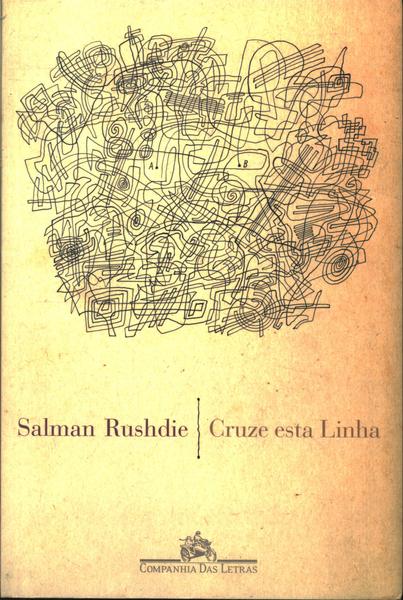Na
fazenda havia muitos patos. As patas sumiam, iam fazer seus ninhos
numa ilha lá em cima. Quando os patinhos nasciam, elas desciam o rio
à frente de suas pequenas esquadrilhas amarelas e aportavam
gloriosas no terreiro da fazenda. Apareceu uma romã de-vez com sinal
de mordida de criança. Um menino foi acusado. Negou. A prima já
moça pegou a romã, meteu na boca do menino, disse que os sinais dos
dentes coincidiam. O menino continuou negando, fez má-criação, foi
preso na despensa. Ficou chorando, batendo na porta como um
desesperado para que o tirassem daquele lugar escuro. Ninguém o
tirava. Então começou, em um acesso de raiva, a derrubar no chão
sacos de milho e arroz. Estranharam que ele não estivesse mais
batendo, e abriram a porta. Escapou com a violência de uma fera
acuada que empreende uma surtida.
As
primas da roça passavam no meio da boiada sem medo nenhum, mas os
meninos da cidade ficavam olhando a cara dos bois e achavam que os
bois estavam olhando para eles com más intenções. A linguagem crua
das moças da roça sobre a reprodução dos animais os assustava.
Na
outra fazenda havia um córrego perdido entre margens fofas de capim
crescido. O menino foi tomar banho, voltou com cinco sanguessugas
pegadas no corpo. Havia um carpinteiro chamado “seu” Roque e uma
grande mó de pedra no moinho de fubá onde a água passava chorando.
Quando pararam o moinho, veio um silêncio pesado e grosso dos morros
em volta e caiu sobre todas as coisas.
Gosto
lento de descascar cana e chupar cana. A garapa escorrendo grossa de
uma bica de lata da engenhoca. O café secando no terreiro de terra
batida. Mulheres de panos na cabeça trabalhando na roça. O homem
doente deitado gemendo no paiol de milho. Havia um pari, onde se ia
toda manhã bem cedo pisar as pedras limosas na água tão fria,
apanhar peixes.
A
estrada onde se ia a cavalo, a estrada úmida aberta de pouco no seio
escuro da mata. A lembrança do primo que caiu do cavalo, foi
arrastado com um pé preso no estribo mexicano, a cabeça se
arrebentando nas pedras.
Defronte
da fazenda havia uma pedra grande, imensa, escura, onde de tarde, no
verão, se ajuntavam nuvens pretas e depois relampejava e trovoava e
chovia com estrondo uma chuva grossa que acabava meia hora antes da
hora de o sol descer, e então os meninos saíam da varanda da
fazenda e iam correr no pasto molhado.
A
travessia do ribeirão no lugar fundo que não dava pé, debaixo da
ponte, a água escura e grossa, o medo de morrer. O jacaré pequeno
que uma roda do carro de boi pegou. Os bois atravessando o rio a
nado, o menino a cavalo confiante no seu cavalo nadador. As balsas
lentas, as canoas escuras e compridas, pássaros tontos batendo com o
peito na parede e morrendo, gaviões súbitos carregando pintos, a
história da onça que veio até o porão.
E
subir morro e descer morro com espingarda na mão, e a cobra vista de
repente e os mosquitos de tarde e o bambual na beira do rio com
rolinhas ciscando. Os bois curados com creolina, as vacas mugindo
longe dos bezerros, o leite quentinho bebido de manhã, a terra
vermelha dos barrancos, a terra preta onde se cava minhoca, a
tempestade no milharal, o calor e a tonteira da primeira cachaça, e
os pecados cometidos atrás do morro com tanta inocência animal.
E,
de repente, uma paixão.
Rubem
Braga,
in Ai
de ti, Copacabana