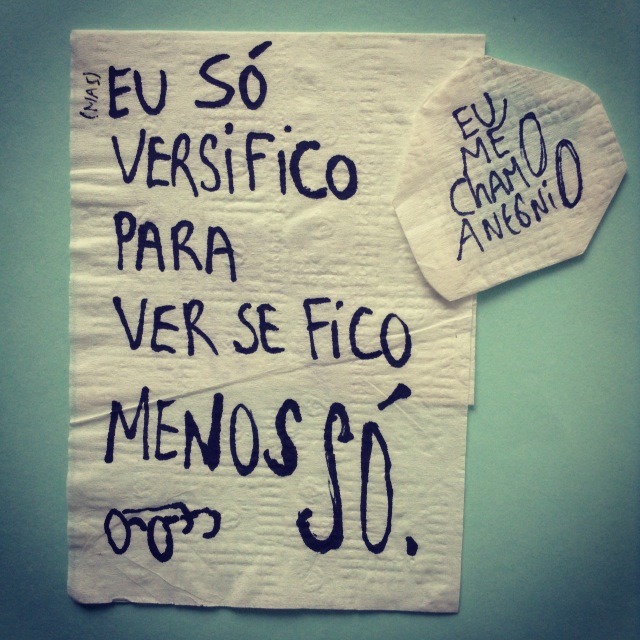domingo, 30 de março de 2014
John Wayne ganha nova biografia nos EUA
Wayne, The Life and the Legend diz que ator
queria interpretar somente homens que espelhavam suas crenças e valores.
Ele
era um herói forte e autêntico, às vezes cabeçudo, mas consagrado à justiça e
capaz de ternura e sacrifício; uma figura solitária, convocada para defender a
propriedade ou resgatar a mocinha, mas, no fim, com frequência exilado no fim
da civilização pós-fronteira, que já não precisava de seu tipo durão. Quer
fosse pistoleiro, caubói ou oficial de cavalaria, ele se tornou a
personificação da fronteira americana.
O narrador do romance The Moviegoer, de
Walker Percy, lembra dele matando “três homens com uma carabina, enquanto caía
na poeira da rua em No Tempo das Diligências”. Joan Didion o chamou de o “molde
perfeito” no qual “os anseios de uma nação” eram derramados.
John Wayne colocou de forma mais simples:
“Encontrei o personagem que o homem médio quer que ele, seu irmão ou seu garoto
seja”. “É o mesmo tipo de cara que a mulher média quer para marido. Ande sempre
de cabeça erguida e olhe diretamente nos olhos.” Na sua carreira, ele
rejeitaria papéis – como o do intrigante e corrupto Willie Stark em A Grande
Ilusão – que violavam suas crenças.
Scott Eyman, autor de uma nova biografia
de Wayne, The Life and the Legend, diz que ele pretendia interpretar somente
“homens que espelhavam suas próprias crenças e seus valores”.
Como o livro de Eyman deixa claro, o
homem Duke Morrison não era sinônimo do personagem John Wayne que ele criou na
tela. “Para Wayne”, escreve Eyman, “ele era Duke Morrison. John Wayne era para
ele o que o Vagabundo era para Charlie Chaplin – um personagem que se
sobrepunha à sua própria personalidade, mas não a ponto de subjugá-la”.
Eyman lembra que a persona na tela que
Wayne idealizou para si – de um homem que era a um só tempo um estranho e uma figura
autoritária – ajudou a transformar um garoto desajeitado e inseguro na
“representação enfática de uma masculinidade americana”, que era segura de si o
suficiente para abrigar uma certa melancolia e vulnerabilidade por baixo da
autoconfiança.
Essa história da invenção de si mesmo por
John Wayne já foi contada muitas vezes. The Searchers: The Making of an
American Legend, o poderoso livro de Glenn Frankel, de 2013, sobre a obra-prima
de John Ford, discute como o jovem Wayne estudou os modos do astro de western
Harry Carey e as lições que aprendeu com o dublê Yakima Canutt, ex-astro de
rodeios. E o livro de 1997 de Wills, John Wayne’s America, também percorreu boa
parte desse terreno.
O trabalho de Eyman tem a pretensão de
ser bem mais abrangente do que as obras anteriores. Às vezes, exagera,
registrando fielmente filmes mais esquecíveis de Wayne. O autor também gasta
bastante espaço em questões discutidas há décadas (como a relação de Wayne com
a política conservadora e sua escolha de filmes).
Mas o que essa biografia faz com
habilidade é dar um retrato vigoroso de John Wayne – isto é, Duke Morrison – e
a Hollywood em que ele trabalhou, enquanto mapeia seu crescente domínio do
ofício. Ele percorre a transição de Wayne dos papéis agitados, pueris, dos primeiros
filmes a um homem dominador e confiante; do “sujeito comum perfeito” de John
Ford ao “pai de todos” e, eventualmente, “avô de todos” como em Bravura
Indômita. Eyman nos dá um senso vívido da relação mentor-protegido entre Ford e
Wayne. Ele reconhece o conhecimento íntimo do processo cinematográfico que
estava por trás daquele ‘à vontade’ de Wayne na tela. E aprecia, também, a
ambiguidade e complexidade de papéis como Ethan Edwards em Rastros de Ódio (um
homem possuído pela vingança e fúria racista, e, no entanto, fiel a seu código
de honra moral) e o sentimento profundo de perda ou isolamento de personagens
como Nathan Brittles em Legião Invencível e Tom Doniphon de O Homem Que Matou o
Facínora.
O Duke Morrison retratado nesse livro é
um profissional, que chega sempre no horário no set, rápido para se desculpar
quando se descontrolava e solícito com a equipe e os extras. Fumante
inveterado, bebia muito, como vários de seus personagens, mas era também um
amante de livros capaz de citar Shakespeare e Dickens.
“Para o bem da clareza psicológica”,
Eyman observa ainda que o ator sempre pedia para as pessoas o chamarem de Duke,
não de John. “Sempre fui Duke, ou Marion ou John Wayne”, afirmou ele, em 1975.
“É um nome que fica bem junto e é como uma palavra – JohnWayne.”
Michiko Kakutani, in The New York Times (fonte: www.estadao.com.br)
sábado, 29 de março de 2014
Estremecimento inteligível
Esgotados
os modos de expressão, a arte se orienta para o sem-sentido, para um universo
privado e incomunicável. Todo estremecimento inteligível, tanto em pintura como
em música ou em poesia, nos parece, com razão, antiquado ou vulgar. O público desaparecerá
em breve; a arte o seguirá de perto.
Uma civilização que começou com as
catedrais tinha que acabar no hermetismo da esquizofrenia.
Emil
Michel Cioran, in Silogismos da amargura
Desaparecimento de Luísa porto
Pede-se a quem souber
do paradeiro de Luísa Porto
avise sua residência
À Rua Santos Óleos, 48.
Previna urgente
solitária mãe enferma
entrevada ha longos anos
erma de seus cuidados.
Pede-se a quem avistar
Luísa Porto, de 37 anos,
que apareça, que escreva,
que mande dizer
onde está.
Suplica-se ao repórter-amador,
ao caixeiro, ao mata-mosquitos, ao transeunte,
a qualquer do povo e da classe média,
até mesmo aos senhores ricos,
que tenham pena de mãe aflita
e lhe restituam a filha volatilizada
ou pelo menos deem informações.
É alta, magra,
morena, rosto penugento, dentes alvos,
sinal de nascença junto ao olho esquerdo,
levemente estrábica.
Vestidinho simples. Óculos.
Sumida há três meses.
Mãe entrevada chamando.
Roga-se ao povo caritativo desta cidade
que tome em consideração um caso de família
digno de simpatia especial.
Luísa é de bom gênio, correta, meiga, trabalhadora, religiosa.
Foi fazer compras na feira da praça.
Não voltou.
Levava pouco dinheiro na bolsa.
(Procurem Luísa.)
De ordinário não se demorava.
(Procurem Luísa.)
Namorado isso não tinha.
(Procurem. Procurem.)
Faz tanta falta.
Se todavia não a encontrarem
nem por isso deixem de procurar
com obstinação e confiança que Deus sempre recompensa
e talvez encontrem.
Mãe, viúva pobre, não perde a esperança.
Luísa ia pouco a cidade
e aqui no bairro é onde melhor pode ser pesquisada.
Sua melhor amiga, depois da mãe enferma,
É Rita Santana, costureira, moça desimpedida.
a qual não da noticia nenhuma,
limitando-se a responder: Não sei.
O que não deixa de ser esquisito.
Somem tantas pessoas anualmente
numa cidade como o Rio de janeiro
que talvez Luísa Porto jamais seja encontrada.
Uma vez, em 1898,
ou 9,
sumiu o próprio chefe de polícia
que saíra a tarde para uma volta no Largo do Rocio
e até hoje.
A mãe de Luísa, então jovem, leu no Diário Mercantil,
ficou pasma.
O jornal embrulhado na memória.
Mal sabia ela que o casamento curto, a viuvez,
a pobreza, a paralisia, o queixume
seriam, na vida, seu lote
e que sua única filha, afável posto que estrábica,
se diluiria sem explicação.
Pela ultima vez e em nome de Deus
todo-poderoso e cheio de misericórdia
procurem a moça, procurem
essa que se chama Luísa Porto
e é sem namorado.
Esqueçam a luta política,
ponham de lado preocupações comerciais,
percam um pouco de tempo indagando,
inquirindo, remexendo.
Não se arrependerão. Não
há gratificação maior do que o sorriso
de mãe em festa
e a paz intima
conseqüente às boas e desinteressadas ações,
puro orvalho da alma.
Não me venham dizer que Luísa suicidou-se.
O santo lume da fé
ardeu sempre em sua alma
pertence a Deus e a Teresinha do Menino Jesus.
Ela não se matou.
Procurem-na.
Tampouco foi vítima de desastre que a polícia ignora
e os jornais não deram.
Está viva para consolo de uma entrevada
e triunfo geral do amor materno
filial e do próximo.
Nada de insinuações quanto à moça casta
e que não tinha, não tinha namorado.
Algo de extraordinário terá acontecido,
terremoto, chegada de rei.
As ruas mudaram de rumo,
para que demore tanto, é noite.
Mas há de voltar, espontânea
ou trazida por mão benigna,
O olhar desviado e terno, canção.
A qualquer hora do dia ou da noite
quem a encontrar avise a Rua Santos Óleos.
Não tem telefone.
Tem uma empregada velha que apanha o recado
e tomará providencias.
Mas
se acharem que a sorte dos povos é mais importante
e que não devemos atentar nas dores individuais,
se fecharem ouvidos a este apelo de campainha,
não faz mal, insultem a mãe de Luísa,
virem a pagina:
Deus terá compaixão da abandonada e da ausente,
erguerá a enferma, e os membros perclusos
já se desatam em forma de busca.
Deus lhe dirá :
Vai,
procura tua filha, beija-a e fecha-a para sempre em teu coração.
Ou talvez não seja preciso esse favor divino.
A mãe de Luísa ( somos pecadores )
sabe-se indigna de tamanha graça.
E resta a espera, que sempre é um dom.
Sim, os extraviados um dia regressam
— ou nunca, ou pode ser, ou ontem.
E de pensar realizamos.
Quer apenas sua filhinha
que numa tarde remota de Cachoeiro
acabou de nascer e cheira a leite,
a cólica, a lágrima.
Já não interessa a descrição do corpo
nem esta, perdoem, fotografia,
disfarces de realidade mais intensa
e que anúncio algum proverá.
Cessem pesquisas, rádios, calai-vos·
Calma de flores abrindo
no canteiro azul
onde desabrocham seios e uma forma de virgem
intata nos tempos.
E de sentir compreendemos.
Já não adianta procurar
minha querida filha Luísa
que enquanto vagueio pelas cinzas do mundo
com inúteis pés fixados, enquanto sofro
e sofrendo me solto e me recomponho
e torno a viver e ando,
está inerte
gravada no centro da estrela invisível
Amor.
do paradeiro de Luísa Porto
avise sua residência
À Rua Santos Óleos, 48.
Previna urgente
solitária mãe enferma
entrevada ha longos anos
erma de seus cuidados.
Pede-se a quem avistar
Luísa Porto, de 37 anos,
que apareça, que escreva,
que mande dizer
onde está.
Suplica-se ao repórter-amador,
ao caixeiro, ao mata-mosquitos, ao transeunte,
a qualquer do povo e da classe média,
até mesmo aos senhores ricos,
que tenham pena de mãe aflita
e lhe restituam a filha volatilizada
ou pelo menos deem informações.
É alta, magra,
morena, rosto penugento, dentes alvos,
sinal de nascença junto ao olho esquerdo,
levemente estrábica.
Vestidinho simples. Óculos.
Sumida há três meses.
Mãe entrevada chamando.
Roga-se ao povo caritativo desta cidade
que tome em consideração um caso de família
digno de simpatia especial.
Luísa é de bom gênio, correta, meiga, trabalhadora, religiosa.
Foi fazer compras na feira da praça.
Não voltou.
Levava pouco dinheiro na bolsa.
(Procurem Luísa.)
De ordinário não se demorava.
(Procurem Luísa.)
Namorado isso não tinha.
(Procurem. Procurem.)
Faz tanta falta.
Se todavia não a encontrarem
nem por isso deixem de procurar
com obstinação e confiança que Deus sempre recompensa
e talvez encontrem.
Mãe, viúva pobre, não perde a esperança.
Luísa ia pouco a cidade
e aqui no bairro é onde melhor pode ser pesquisada.
Sua melhor amiga, depois da mãe enferma,
É Rita Santana, costureira, moça desimpedida.
a qual não da noticia nenhuma,
limitando-se a responder: Não sei.
O que não deixa de ser esquisito.
Somem tantas pessoas anualmente
numa cidade como o Rio de janeiro
que talvez Luísa Porto jamais seja encontrada.
Uma vez, em 1898,
ou 9,
sumiu o próprio chefe de polícia
que saíra a tarde para uma volta no Largo do Rocio
e até hoje.
A mãe de Luísa, então jovem, leu no Diário Mercantil,
ficou pasma.
O jornal embrulhado na memória.
Mal sabia ela que o casamento curto, a viuvez,
a pobreza, a paralisia, o queixume
seriam, na vida, seu lote
e que sua única filha, afável posto que estrábica,
se diluiria sem explicação.
Pela ultima vez e em nome de Deus
todo-poderoso e cheio de misericórdia
procurem a moça, procurem
essa que se chama Luísa Porto
e é sem namorado.
Esqueçam a luta política,
ponham de lado preocupações comerciais,
percam um pouco de tempo indagando,
inquirindo, remexendo.
Não se arrependerão. Não
há gratificação maior do que o sorriso
de mãe em festa
e a paz intima
conseqüente às boas e desinteressadas ações,
puro orvalho da alma.
Não me venham dizer que Luísa suicidou-se.
O santo lume da fé
ardeu sempre em sua alma
pertence a Deus e a Teresinha do Menino Jesus.
Ela não se matou.
Procurem-na.
Tampouco foi vítima de desastre que a polícia ignora
e os jornais não deram.
Está viva para consolo de uma entrevada
e triunfo geral do amor materno
filial e do próximo.
Nada de insinuações quanto à moça casta
e que não tinha, não tinha namorado.
Algo de extraordinário terá acontecido,
terremoto, chegada de rei.
As ruas mudaram de rumo,
para que demore tanto, é noite.
Mas há de voltar, espontânea
ou trazida por mão benigna,
O olhar desviado e terno, canção.
A qualquer hora do dia ou da noite
quem a encontrar avise a Rua Santos Óleos.
Não tem telefone.
Tem uma empregada velha que apanha o recado
e tomará providencias.
Mas
se acharem que a sorte dos povos é mais importante
e que não devemos atentar nas dores individuais,
se fecharem ouvidos a este apelo de campainha,
não faz mal, insultem a mãe de Luísa,
virem a pagina:
Deus terá compaixão da abandonada e da ausente,
erguerá a enferma, e os membros perclusos
já se desatam em forma de busca.
Deus lhe dirá :
Vai,
procura tua filha, beija-a e fecha-a para sempre em teu coração.
Ou talvez não seja preciso esse favor divino.
A mãe de Luísa ( somos pecadores )
sabe-se indigna de tamanha graça.
E resta a espera, que sempre é um dom.
Sim, os extraviados um dia regressam
— ou nunca, ou pode ser, ou ontem.
E de pensar realizamos.
Quer apenas sua filhinha
que numa tarde remota de Cachoeiro
acabou de nascer e cheira a leite,
a cólica, a lágrima.
Já não interessa a descrição do corpo
nem esta, perdoem, fotografia,
disfarces de realidade mais intensa
e que anúncio algum proverá.
Cessem pesquisas, rádios, calai-vos·
Calma de flores abrindo
no canteiro azul
onde desabrocham seios e uma forma de virgem
intata nos tempos.
E de sentir compreendemos.
Já não adianta procurar
minha querida filha Luísa
que enquanto vagueio pelas cinzas do mundo
com inúteis pés fixados, enquanto sofro
e sofrendo me solto e me recomponho
e torno a viver e ando,
está inerte
gravada no centro da estrela invisível
Amor.
Carlos
Drummond de Andrade
sexta-feira, 28 de março de 2014
Marcos
"Tão múltiplos são os interesses de
nossa vida que não é raro que, numa mesma circunstância, os marcos de uma
felicidade que ainda não existe estejam pousados ao lado da agravação de um mal
de que sofremos."
Marcel Proust
Aparências
"As coisas que nos assustam são em
maior número do que as que efetivamente fazem mal, e afligimo-nos mais pelas
aparências do que pelos fatos reais."
Sêneca
Agua clara con sonido

De Garcilaso dela Vega dizia-se que era el mais hermoso y
gallardo de cuantos componian la Corte del emperador. Chamavam-no, sem inveja,
el amado de los dioses y su elegido. Morto com a idade de Cristo (1503-1536),
viveu o grande toledano uma vida de um brilho raro, distribuída entre um
desterro, muitas batalhas e, nos interlúdios, lindas mulheres, entre as quais
sobressai sua maior paixão, dona Isabel Freyre, dama portuguesa da Corte da
imperatriz Isabel, que, aparentemente, não lhe dava o devido troco. Mas a
verdade é que o poeta-cortesão ia levando, a mão nos copos da espada, um
sorriso nos lábios e estrofes de Virgílio, Dante e Petrarca na ponta da língua,
para amaciar corações outros que não o da bem-amada.
Era um bravo, à maneira de Villon e de Camões. Tão bem a
cavalo como a pé, amigo de poetas e de santos, morreu nos braços de seu amigo,
o marquês de Lombay, que a Igreja canonizaria como são Francisco de Borja,
depois de, sozinho, dar início ao assalto à fortaleza de Muy, na Provença. Mas
quando repousava-se das armas, empunhava, ao que se conta, a harpa com igual
mestria. Formal, no sentido clássico, sem ser culterano, soube deixar fluir de
sua curta mas magistral obra poética uma luminosa música verbal que o distingue
entre os pioneiros do chamado Século de Ouro da poesia espanhola. E foi também
um extraordinário inovador, não só com trazer para a lírica de sua pátria os
elementos positivos da escola italiana, mas com enriquecê-la de criações novas,
qual seja a estrofe composta de versos de cinco, sete e 11 sílabas, conhecida
como estrofe-lira, por ser esta a palavra final do primeiro verso de sua famosa
canção "A la flor de Gnido ":
Si de mi
baja lira
tanto pudiese el son que en un momento
aplacase la ira
del animoso viento
y la furia del mar, y el movimiento…
tanto pudiese el son que en un momento
aplacase la ira
del animoso viento
y la furia del mar, y el movimiento…
E que maior glória para
Garcilaso, ver suas inovações constituírem as formas diletas de poetas
espanhóis do século VI da estatura de frei Luis de León e, sobretudo, San Juan
de La Cruz?
Há um verso do poeta que me encanta, na écloga dedicada ao
vice-rei de Nápoles, em que são personagens seus dois filhos pastoris mais
amados, Salicio e Nemeroso. Vem lá pelo meio do poema, e diz assim:
... cuando
Salicio, recostado
al pié de una alta haya en la verdura,
por donde una agua clara con sonido
atravesaba el fresco y verde prado...
al pié de una alta haya en la verdura,
por donde una agua clara con sonido
atravesaba el fresco y verde prado...
O verso a que me refiro, como já hão de ter percebido, é o
terceiro do trecho aqui citado: por donde una agua clara con sonido. É inútil
tentar traduzir. Água clara com som, água clara com ruído - nada terá nunca a
beleza natural, a luminosidade de córrego límpido correndo fagueiro ao sol, o
onomatopeísmo substantivo, sem necessidade de aliterações, do verso original de
Garcilaso. São como sons puros de música.
Eu, se jamais tivesse
feito um verso assim, pendurava as chuteiras.
Vinicius de Moraes, in Para viver um
grande amor
quinta-feira, 27 de março de 2014
Sobre a Escrita
Meu
Deus do céu, não tenho nada a dizer. O som de minha máquina é macio.
Que é que eu posso escrever? Como
recomeçar a anotar frases? A palavra é o meu meio de comunicação. Eu só poderia
amá-la. Eu jogo com elas como se lançam dados: acaso e fatalidade. A palavra é
tão forte que atravessa a barreira do som. Cada palavra é uma ideia. Cada
palavra materializa o espírito. Quanto mais palavras eu conheço, mais sou capaz
de pensar o meu sentimento.
Devemos modelar nossas palavras até se
tornarem o mais fino invólucro dos nossos pensamentos. Sempre achei que o traço
de um escultor é identificável por um extrema simplicidade de linhas. Todas as
palavras que digo – é por esconderem outras palavras.
Qual é mesmo a palavra secreta? Não sei é
porque a ouso? Não sei porque não ouso dizê-la? Sinto que existe uma palavra,
talvez unicamente uma, que não pode e não deve ser pronunciada. Parece-me que
todo o resto não é proibido. Mas acontece que eu quero é exatamente me unir a
essa palavra proibida. Ou será? Se eu encontrar essa palavra, só a direi em
boca fechada, para mim mesma, senão corro o risco de virar alma perdida por
toda a eternidade. Os que inventaram o Velho Testamento sabiam que existia uma
fruta proibida. As palavras é que me impedem de dizer a verdade.
Simplesmente
não há palavras.
O que não sei dizer é mais importante do
que o que eu digo. Acho que o som da música é imprescindível para o ser humano
e que o uso da palavra falada e escrita são como a música, duas coisas das mais
altas que nos elevam do reino dos macacos, do reino animal, e mineral e vegetal
também. Sim, mas é a sorte às vezes.
Sempre quis atingir através da palavra
alguma coisa que fosse ao mesmo tempo sem moeda e que fosse e transmitisse tranquilidade
ou simplesmente a verdade mais profunda existente no ser humano e nas coisas.
Cada vez mais eu escrevo com menos palavras. Meu livro melhor acontecerá quando
eu de todo não escrever. Eu tenho uma falta de assunto essencial. Todo homem
tem sina obscura de pensamento que pode ser o de um crepúsculo e pode ser uma
aurora.
Simplesmente as palavras do homem.
Clarice
Lispector, in A descoberta do mundo
A Arte de Ler
“O leitor que mais admiro é aquele que
não chegou até a presente linha. Neste momento já interrompeu a leitura e está
continuando a viagem por conta própria.”
Mário
Quintana
quarta-feira, 26 de março de 2014
A clássica hipocrisia
O
sentido de clássico aí é na acepção histórica mesmo e não nessa avacalhação que
deram à palavra “clássico”, que vai desde adjetivar um livro famoso até o
ridículo de nominar uma infame pelada do Vasco contra o Flamengo.
Estou falando da era clássica, no palco
da filosofia exibida em praça pública, nas ágoras da Grécia, onde se discutia
ética, moral, arte e política.
E me detenho numa frase de Sócrates, para
dar mote ao texto. “Eu só sei que nada sei”. Até hoje não se sabe se ele disse
mesmo essa bobagem. Vamos partir da premissa de que ele a pronunciou.
Então podemos afirmar que Sócrates seria
um desonesto. Ora, se alguém sabe que nada sabe como se explica ele ter
dedicado a vida e a sacrificado em nome do ensinamento? Transformando praças em
salas de aula a céu aberto, onde ensinava ética, moral, comportamento,
filosofia e costumes.
Outra forma de compreender essa citação
repousa no campo do desabafo. Sócrates detinha o afeto de alunos e discípulos,
mas era alvo de ódios e invejas. O poder sentia-se ameaçado e os invejosos
sentiam-se diminuídos. Basta ver os textos que se seguiram à sua atuação, que
vai do achincalhe de Aristófanes até as defesas de Xenofonte, Platão e
Aristóteles.
O desabafo seria uma demonstração de
cansaço ante a estupidez da inveja e o medo que os poderosos têm dos críticos,
dedicando-lhes como homenagem a própria perseguição.
Ninguém pode dizer que nada sabe. E muito
menos que sabe muito sobre tudo. Os especialistas sabem muito sobre muito
pouco. Os generalistas sabem pouco sobre muitas coisas. Mas ninguém detém
sabedoria em vastidão, que dispense o estudo; nem ignorância plena, que o
isente dos atropelos de aprender ou ensinar. Essa ignorância total reside
apenas na licença poética de Manoel de Barros, cuja poesia, como poucas, é um
estuário de instrução.
Outra questão é a confissão de
ignorância. Tive um professor de Direito, pouco culto, que ensinava: “Nunca
confesse sua ignorância”. Essa é uma lição cretina. Não há por que negar ignorância
sobre o que não se sabe.
Porém, há momentos apropriados para essa
confissão. Imagine um professor, ao iniciar a aula, dizer que vai ensinar algo
que não sabe. Ficará alguém na sala?
Um cardiologista, na véspera de operar
alguém, dizer ao paciente que nada entende dos mecanismos do coração. Ou um
dentista, de motorzinho ligado, dizer ao cliente que ainda não compreendeu
causas e efeitos da cárie.
O problema reside nas duas pontas dos
extremos. Nem a petulância de exibir um conhecimento discutível nem a
hipocrisia da modéstia de miçanga do “nada sei”. Todos nós sabemos, não tanto
que se ache isento de aprender nem tão pouco que se julgue um jegue entre
togados.
Fico com a lição de Lin Yu Tang: Só
envelhece que perde a capacidade de amar, de aprender e revoltar-se. Té mais.
François Silvestre, in
www.substantivoplural.com.br
A brevidade do existir humano, segundo H. G. Wells
“A
Máquina do Tempo”, primeiro romance do visionário escritor inglês, traz trama
perturbadora por mostrar que a civilização não passará de um piscar de olhos na
existência do universo.

Poucos
livros conseguem provocar emoções tão intensas, sombrias e duradouras sobre a
existência humana e o sentido da vida quanto “A Máquina do Tempo”. Romance de
estreia do escritor inglês H. G. Wells (1866-1946), a obra foi publicada pela
primeira vez em 1895, quando ele tinha apenas 29 anos, e consagrada depois como
um evento pioneiro e importante no gênero ficção científica. Mesmo assim, desde
então, não tem sido devidamente dimensionado por toda a sua importância e
merecimento, que vai além de mero entretenimento juvenil. Ancorado na teoria
evolucionista de Charles Darwin (1809-1882), Wells antecipa o futuro do homem
com realismo impressionante, que chega a chocar e faz o leitor perceber toda a
insignificância que é a vida no tempo e no espaço. Mesmo com suas invenções e
curas de doenças mortais, na busca constante pela eternidade. A narrativa é uma
envolvente reflexão sobre os conceitos de humanidade e civilização, com viés
ideológico da época em que foi escrita, com todos os aspectos positivos e negativos.
Wells
faz pensar também no sentido da religiosidade e seu caráter original. Sua
história leva a uma fatalidade como conclusão: não há o que fazer para tornar o
homem imortal, pois não existirão humanos, apenas resquícios de sua espécie em
seres híbridos daqui a centenas de milhares de anos. Mas, o que se faz hoje,
poderia ter reflexos milhares de anos depois. Em sua investida rumo ao
desconhecido e ao perigoso com seu invento, esse “Viajante do Tempo”, como é
chamado na trama, apoiou-se em conceitos matemáticos para inventar uma
geringonça capaz de se mover pela Quarta Dimensão do tempo. E ele vai parar no
ano de 802.701 e se depara não com semelhantes, mas com seres pacíficos e
dóceis, remanescentes dos humanos que, aparentemente, vivem em um mundo paradisíaco,
sem qualquer tipo de preocupação. Não demora, porém, para descobrir que, na
verdade, esses seres fantásticos servem de alimentos para outra raça, que vive
no subterrâneo e que, apesar de outrora terem sido dominados pelos Elóis,
tornaram-se predadores destes, em uma eterna luta de classes.
A história se passa inicialmente na
Inglaterra sombria de 1899, onze anos depois dos assassinatos de Jack, O
Estripador. Quem a narra é um dos amigos do viajante, que faz parte do grupo
que se reúne semanalmente em sua casa para jantar. Certa noite, o anfitrião...
Matéria completa aqui.
A felicidade como recompensa: uma ilusão moral
“Toda essa ideia de uma felicidade como recompensa
- que outra coisa seria, portanto, senão uma ilusão moral: um título de crédito
com o qual se compra de ti, homem empírico, os teus prazeres sensíveis de
agora, mas que só é pagável quando tu mesmo não precisas mais do pagamento.
Pensa sempre nessa felicidade como um todo de prazeres que são análogos aos
prazeres sacrificados agora. Ousa, apenas, dominar-te agora; ousa o primeiro
passo de criança em direção à virtude: o segundo já se tornará mais fácil para
ti. Se continuares a progredir, notarás com espanto que aquela felicidade
que esperavas como recompensa do teu sacrifício, mesmo para ti não tem mais
nenhum valor. Foi intencionalmente que se colocou a felicidade num ponto do
tempo em que tens de ser suficientemente homem para te envergonhares
dela. Envergonhar, digo eu, pois, se nunca chegas a sentir-te mais sublime do
que aquele ideal sensível de felicidade, seria melhor que a razão jamais te
tivesse falado.
É exigência da razão não precisar mais de nenhuma
felicidade como recompensa, tão certo quanto é exigência tornar-se mais
conforme à razão, mais autónomo, mais livre. Pois, se a felicidade ainda pode recompensar-nos -
a não ser que se interprete o conceito de felicidade contrariamente a todo o
uso da linguagem -, ela é então uma felicidade que não é trazida, já, pela
própria razão (pois como poderiam razão e felicidade jamais coincidir?), uma
felicidade que, justamente por isso, aos olhos de um ser racional, não tem mais
nenhum valor.
Deveríamos,
diz um antigo escritor, considerar que os deuses imortais são infelizes porque
não possuem capitais, bens territoriais, escravos? Não deveríamos, antes,
exaltá-los como os únicos bem-aventurados, justamente porque são os únicos que,
pela sublimidade da sua natureza, já estão despojados de todos aqueles bens? -
O mais alto a que podem elevar-se as nossas ideias é manifestamente um ser que,
com autossuficiência absoluta, frui somente do seu próprio ser, um ser que cessa toda a
passividade, que não é passivo em relação a nada, nem mesmo em relação aleis,
que age com liberdade absoluta, apenas em conformidade com o seu ser, e
cuja única lei é a sua própria essência.
Friedrich Schelling, in Sobre o Dogmatismo e o Criticismo
A missão governamental
“O governo tem a missão de fazer com que
os bons cidadãos estejam tranquilos e que os maus não o estejam.”
Georges
Clemenceau
terça-feira, 25 de março de 2014
A costureira

Imagem: Google
para Danielle Jensen
Ela ouve o tecido, ela pousa
o ouvido, ela ouve com os olhos.
À fibra e ao feixe interroga
sobre o que se entrelaçara,
distinguindo a linha, o intervalo,
o vão, o entreato, atenta
para o que na fala geométrica
e repetida dos fios é um outro
vazio: o de antes da trama, ato
anterior ao enredo; óculos
postos para a escuta, a escuta
desfia-se no vento, o olho
flutua, folha, flor, agulha;
fecha os olhos; ouve
com as pontas dos dedos;
indaga do tecido o modo,
os limites, a função, a oficina,
a forma que ele quer ter,
a coisa, a casa que ele quer ser;
e costura como quem à mão
e à máquina descosturasse
o dicionário, rasgando em moles
móbiles seus hábitos, o vinco
de sua farda.
Ela ouve o tecido, ela pousa
o ouvido, ela ouve com os olhos.
À fibra e ao feixe interroga
sobre o que se entrelaçara,
distinguindo a linha, o intervalo,
o vão, o entreato, atenta
para o que na fala geométrica
e repetida dos fios é um outro
vazio: o de antes da trama, ato
anterior ao enredo; óculos
postos para a escuta, a escuta
desfia-se no vento, o olho
flutua, folha, flor, agulha;
fecha os olhos; ouve
com as pontas dos dedos;
indaga do tecido o modo,
os limites, a função, a oficina,
a forma que ele quer ter,
a coisa, a casa que ele quer ser;
e costura como quem à mão
e à máquina descosturasse
o dicionário, rasgando em moles
móbiles seus hábitos, o vinco
de sua farda.
Eucanaã
Ferraz
Políticos e promessas
"Há políticos que, se seus eleitores
fossem canibais, lhes prometeriam missionários para o jantar".
Henry
Louis Mencken
Preferências
"Prefiro o cinema. Prefiro os gatos.
Prefiro os carvalhos sobre o Warta. Prefiro Dickens a Dostoiévski. Prefiro-me
gostando das pessoas do que amando a humanidade. Prefiro ter agulha e linha à
mão. Prefiro a cor verde. Prefiro não achar que a razão é culpada de tudo.
Prefiro as exceções. Prefiro sair mais cedo. Prefiro conversar sobre outra
coisa com os médicos. Prefiro as velhas ilustrações ilustradas, Prefiro o
ridículo de escrever poemas ao ridículo de não escrevê-los. Prefiro, no amor,
os aniversários não marcados, para celebrá-los todos os dias. Prefiro os
moralistas que nada me prometem. Prefiro a bondade astuta à confiante demais.
Prefiro a terra à paisana. Prefiro os países conquistados aos conquistadores.
Prefiro guardar certa reserva. Prefiro o inferno do caos ao inferno da ordem.
Prefiro os contos de Grimm às manchetes dos jornais. Prefiro as folhas sem
flores às flores sem folhas. Prefiro os cães sem a cauda cortada. Prefiro os
olhos claros porque os tenho escuros. Prefiro as gavetas. Prefiro muitas coisas
que não mencionei aqui e muitas coisas também não mencionadas. Prefiro os zeros
soltos do que postos em fila para formar cifras. Prefiro o tempo dos insetos ao
das estrelas. Prefiro bater na madeira. Prefiro não perguntar quanto tempo
ainda e quando. Prefiro ponderar a própria possibilidade do ser ter a sua
razão".
Wislawa
Szymborska, in Poemas
segunda-feira, 24 de março de 2014
Nossa imagem da felicidade
"Entre os atributos mais
surpreendentes da alma humana”, diz Lotze, “está, ao lado de tanto egoísmo
individual, uma ausência geral de inveja de cada presente com relação a seu
futuro”. Essa reflexão conduz-nos a pensar que nossa imagem da felicidade é
totalmente marcada pela época que nos foi atribuída pelo curso da nossa
existência. A felicidade capaz de suscitar nossa inveja está toda, inteira, no
ar que já respiramos, nos homens com os quais poderíamos ter conversado, nas
mulheres que poderíamos ter possuído. Em outras palavras, a imagem da
felicidade está indissoluvelmente ligada à da salvação. O mesmo ocorre com a
imagem do passado, que a história transforma em coisa sua. O passado traz
consigo um índice misterioso, que o impele à redenção. Pois não somos tocados
por um sopro do ar que foi respirado antes? Não existem, nas vozes que
escutamos, ecos de vozes que emudeceram? Não têm as mulheres que cortejamos
irmãs que elas não chegaram a conhecer? Se assim é, existe um encontro secreto,
marcado entre as gerações precedentes e a nossa. Alguém na terra está à nossa
espera. Nesse caso, como a cada geração, foi-nos concedida uma frágil força
messiânica para a qual o passado dirige um apelo. Esse apelo não pode ser
rejeitado impunemente".
Walter
Benjamin, in Teses sobre o conceito de história
O tempo

Imagem: Google
Numa
dessas noites — me conta Alejandra Adoum — a mãe de Alina estava se preparando
para sair. Alina a olhava, enquanto a mãe, sentada na frente do espelho,
pintava os lábios, as sobrancelhas e passava pó-de-arroz no rosto.
Depois
a mãe experimentou um vestido, e outro, e pôs um colar de coral negro, e uma
tiara nos cabelos, e irradiava uma luz limpa e perfumada. Alina não desgrudava
os olhos.
—
Como eu gostaria de ter a tua idade — disse Alina.
—
Eu, em compensação... — sorriu a mãe — daria qualquer coisa para ter quatro
anos, como você.
Naquela
noite, ao regressar, a mãe encontrou-a acordada. Alina abraçou suas pernas com
força.
— Morro de pena de você, mamãe — disse, soluçando.
Eduardo
Galeano, in O livro dos abraços
Personalidade
“A administração é negócio de técnica; o
governo, negócio de personalidade.”
André
Siegfried
domingo, 23 de março de 2014
Havendo vida em Marte
Havendo
vida em Marte suponho que haja intrigas. Beijo, brejo, pouco nexo… mar imenso,
suicidas.
Havendo
vida em Marte suponho que haja mídia. Césio, tédio, prédio, sexo… pouco senso,
pesticida.
Havendo
vida em Marte suponho que haja brigas.
Havendo
vida em Marte suponho que haja morte. Dor, enfarte à la carte… internet, fone,
sorte.
Havendo
vida em Marte suponho que haja corte. Belas-artes, voo charter, Robocop fraco
forte.
Havendo
vida em Marte suponho que haja morte.
Itamar Assumpção, in cadernosdoitamar.com
Arrancaram os olhinhos do cavalo

Jean,
filho de Paulo de Bolé, foi outro brincalhão que ficou na estória da cidade,
levava a vida a fazer anarquia e presepada. Essa quem me contou foi a sua irmã
Jane. Ela disse que certo dia, bem cedinho, um cidadão entrou na venda de seu
pai, brabo que só a “capota choca”. Paulo estava dormindo e quem o atendeu foi
dona Josefa.
O
homem, muito nervoso, falando alto, disse que veio cobrar o prejuízo que teve
com o seu cavalo, uma vez que Jean tinha arrancado os dois olhos do animal.
Dona Josefa ficou estupefata. Sabia que o filho era os pés da besta, mas chegar
a esse ponto tinha passado dos limites. Pediu ao homem que tivesse calma; assim
que o marido acordasse resolveria o problema. E ficasse certo de que o filho
iria levar uma surra daquelas.
Nem
bem Paulo tinha se levantado, chegou o oficial de justiça com uma intimação pra
ele se apresentar na Delegacia às três horas da tarde. Indagou da esposa o que
danado teria feito. Pessoa pacata, único exagero que praticava era de vez em
quando tomar umas nove mais dezesseis. Foi então que a mulher relatou o
acontecido de uma hora antes. “Mas por que o homem não veio me procurar
novamente? Eu teria resolvido o caso sem precisar dar parte”. Às três horas lá
estava ele cara a cara com o queixoso, justamente na frente do Tenente Vasco,
que pra seu desespero foi um dos delegados mais brabos que Bom Jardim já teve.
Diz
o homem da lei: “quer dizer então que o seu filho, um menino com dez anos,
cometeu uma proeza dessas? Estou curioso pra conhecer esse anjinho
pessoalmente”. Virando-se para o queixoso, perguntou: “e seu cavalinho, por
acaso está vivo ou morreu?”
-
Doutô, o cavalo é de pau e pertence ao meu carrossel! (seu Araújo era dono de
um carrossel).
Não
prestou não!
Vasco
deu um murro na mesa e disse: “Minha vontade era lhe dar uma dúzia de bolos e
depois lhe meter no xadrez! Como é que você me ocupa e me faz perder tempo por
causa dos olhos de um cavalo de pau?”
E dispensou os dois, pra satisfação do
réu que, depois de um susto daqueles, nem a surra prometida deu no filho: e de
vingança não pagou os olhinhos do cavalo.
Bráulio
de Castro, in www.bestafubana.com.br
sábado, 22 de março de 2014
A música na minha escrita
No México, enquanto escrevia Cem Anos de Solidão — entre 1965 e 1966 -, só tive dois discos que
se gastaram de tanto serem ouvidos: os Prelúdios de Debussy e A hard day's night dos Beatles. Mais
tarde, quando por fim tive em Barcelona quase tantos como sempre quis,
pareceu-me demasiado convencional a classificação alfabética e adotei para
minha comodidade privada a ordem por instrumentos: o violoncelo, que é o meu
favorito, de Vivaldi a Brahms; o violino, desde Corelli até Schõnberg; o cravo
e o piano, de Bach a Bartók. Até descobrir o milagre de que tudo o que soa é
música, incluídos os pratos e os talheres no lava-louças, sempre que criem a
ilusão de nos indicar por onde vai a vida.
A minha limitação era que não podia escrever com
música porque prestava mais atenção ao que ouvia do que ao que escrevia, e
ainda hoje assisto a muito poucos concertos porque sinto que na cadeira se
estabelece uma espécie de intimidade um pouco impudica com vizinhos estranhos.
No entanto, com o tempo e as possibilidades de ter boa música em casa, aprendi
a escrever com um fundo musical de acordo com o que escrevo. Os noturnos de
Chopin para os episódios calmos, ou os sextetos de Brahms para as tardes
felizes. Em contrapartida, não tornei a ouvir Mozart durante anos, desde que me
assaltou a ideia perversa de que Mozart não existe, porque quando é bom é
Beethoven, e quando é mau é Haydn.
Nos anos em
que evoco estas memórias, consegui o milagre de que nenhuma espécie de música
me incomode para escrever, embora talvez não tenha consciência de outras
virtudes, pois a maior surpresa foi-me dada por dois músicos catalães, muito
jovens e atentos, que julgavam ter descoberto afinidades surpreendentes entre O Outono do Patriarca, o meu sexto
romance, e o Terceiro Concerto para Piano
de Béla Bartók. É verdade que o ouvia sem piedade enquanto escrevia, porque me
criava um estado de espírito muito especial e um pouco estranho, mas nunca
pensei que me pudesse ter influenciado a ponto de se notar na minha escrita.
Não sei como ficaram a saber daquela fraqueza os membros da Academia Sueca, que
o colocaram como fundo na entrega do meu prémio. Agradeci-o do fundo da alma,
como é evidente, mas se me tivessem perguntado - com toda a minha gratidão e o
meu respeito por eles e por Béla Bartók — teria gostado de alguma das romanzas
naturais de Francisco el Hombre das festas da minha infância.
Gabriel García Marquez, in Viver para Contá-la
O contrato
Quem quiser celebrar um consórcio, examine primeiro
as condições, depois as forças próprias, e, finalmente, faça um cálculo de
probabilidades. Foi o que não cumpriram estas duas meninas de colégio, cuja
história vou contar em três folhas de almaço. Eram amigas, e não se conheciam
antes. Conheceram-se ali, simpatizaram uma com a outra, e travaram uma dessas
amizades que resistem aos anos, e são muita vez a melhor recordação do passado.
Josefa tinha mais um ano que Laura; era a diferença. No mais as mesmas. Igual
estatura, igual índole, iguais olhos e igual nascimento. Eram filhas de
funcionários públicos, ambas dispondo de um certo legado, que lhes deixara o
padrinho. Para que a semelhança seja completa, o padrinho era o mesmo, um certo
Comendador Brás, capitalista.
Com tal ajuste de condições e circunstâncias, não
precisavam mais nada para serem amigas. O colégio ligou-as desde tenros anos.
No fim de poucos meses de frequência, eram as mais unidas criaturas de todo
ele, a ponto de causar inveja às outras, e até desconfiança, porque como
cochichavam muita vez sozinhas, as outras imaginavam que diziam mal das
companheiras. Naturalmente, as relações continuaram cá fora, durante o colégio,
e as famílias vieram a ligar-se, graças às meninas. Não digo nada das famílias,
porque não é o principal do escrito, e eu prometi escrever isto em três folhas
de almaço; basta saber que tinham ainda pai e mãe. Um dia, no colégio, contavam
elas onze e doze anos, lembrou-se Laura de propor à outra, adivinhem o quê?
Vamos ver se são capazes de adivinhar o que foi. Falavam do casamento de uma
prima de Josefa, e que há de lembrar a outra?
— Vamos fazer um contrato?
— Que é?
— Mas diga se você quer...
— Mas se eu não sei o que é?
— Vamos fazer um contrato: — casar no mesmo dia, na
mesma igreja...
— Valeu! nem você casa primeiro nem eu; mas há de
ser no mesmo dia.
— Justamente.
Bem pouco valor teria este convênio, celebrado aos
onze anos, no jardim do colégio, se ficasse naquilo; mas não ficou. Elas foram
crescendo e aludindo a ele. Antes dos treze anos já o tinham ratificado sete ou
oito vezes. Aos quinze, aos dezesseis, aos dezessete tornavam às cláusulas, com
uma certa insistência que era tanto da amizade que as unia como do próprio
objeto da conversação, que deleita naturalmente os corações de dezessete anos.
Daí um efeito certo. Não só a conversação as ia obrigando uma para a outra como
consigo mesmas. Aos dezoito anos, cada uma delas tinha aquele acordo infantil
como um preceito religioso.
Não digo se elas andavam ansiosas de cumpri-lo,
porque uma tal disposição de ânimo pertence ao número das coisas prováveis e
quase certas; de maneira que, no espírito do leitor, podemos crer que é uma
questão vencida. Restava só que aparecessem os noivos, e eles não apareciam;
mas, aos dezenove anos é fácil esperar, e elas esperavam. No entanto, andavam
sempre juntas, iam juntas ao teatro, aos bailes, aos passeios; Josefa ia passar
com Laura oito dias, quinze dias; Laura ia depois passá-los com Josefa. Dormiam
juntas. Tinham confidências íntimas; uma referia à outra a impressão que lhe
causara um certo bigode, e ouvia a narração que a outra lhe fazia do mundo de
coisas que achara em tais ou tais olhos masculinos. Deste modo punham em comum
as impressões e partiam entre si o fruto da experiência.
Um dia, um dos tais bigodes deteve-se alguns
instantes, espetou as guias no coração de Josefa, que desfaleceu, e não era
para menos; quero dizer, deixou-se apaixonar. Pela comoção dela ao contar o
caso, pareceu a Laura que era uma impressão mais profunda e duradoura do que as
do costume. Com efeito, o bigode voltou com as guias ainda mais agudas, e deu
outro golpe ainda maior que o primeiro. Laura recebeu a amiga, beijou-lhe as
feridas, talvez com a ideia de sorver o mal com o sangue, e animou-a muito a
pedir ao céu muitos mais golpes como aquele.
— Eu cá, acrescentou ela; quero ver se me acontece
a mesma coisa...
— Com o Caetano?
— Qual Caetano!
— Outro?
— Outro, sim, senhora.
— Ingrata! Mas você não me disse nada?
— Como, se é fresquinho de ontem?
— Quem é?
Laura contou à outra o encontro de uns certos olhos
pretos, muito bonitos, mas um tanto distraídos, pertencentes a um corpo muito
elegante, e tudo junto fazendo um bacharel. Estava encantada; não sonhava outra
coisa. Josefa (falemos a verdade) não ouviu nada do que a amiga lhe dissera;
pôs os olhos no bigode assassino e deixou-a falar. No fim disse distintamente:
— Muito bem.
— De maneira que pode ser que em breve estejamos
cumprindo o nosso contrato. No mesmo dia, na mesma igreja...
— Justamente, murmurou Josefa.
A outra dentro de poucos dias perdeu a confiança
nos olhos negros. Ou eles não tinham pensado nela, ou eram distraídos, ou
volúveis. A verdade é que Laura tirou-os do pensamento, e espreitou outros. Não
os achou logo; mas os primeiros que achou, prendeu-os bem, e cuidou que eram
para toda a eternidade; a prova de que era ilusão é que, tendo eles de ir à
Europa, em comissão do governo, não choraram uma lágrima de saudade; Laura
entendeu trocá-los por outros, e raros, dois olhos azuis muito bonitos. Estes, sim,
eram dóceis, fiéis, amigos e prometiam ir até o fim, se a doença os não colhe,
— uma tuberculose galopante que os levou aos Campos do Jordão, e dali ao
cemitério.
Em tudo isso, gastou a moça uns seis meses. Durante
o mesmo prazo, a amiga não mudou de bigode, trocou muitas cartas com ele, ele
relacionou-se na casa, e ninguém ignorava mais que entre ambos existia um laço
íntimo. O bigode perguntou-lhe muita vez se lhe dava autorização de a pedir, ao
que Josefa respondia que não, que esperasse um pouco.
— Mas esperar, o quê? inquiria ele, sem entender
nada.
— Uma coisa.
Sabemos o que era a coisa; era o convênio colegial.
Josefa ia contar à amiga as impaciências do namorado, e dizia-lhe rindo:
— Você apresse-se...
Laura apressava-se. Olhava para a direita, para a
esquerda, mas não via nada, e o tempo ia passando seis, sete, oito meses. No
fim de oito meses, Josefa estava impaciente; tinha gasto cinqüenta dias a dizer
ao namorado que esperasse, e a outra não adiantou coisa nenhuma. Erro de
Josefa; a outra adiantou alguma coisa. No meio daquele tempo apareceu uma
gravata no horizonte com todos os visos conjugais. Laura confiou a notícia à
amiga, que exultou muito ou mais que ela; mostrou-lhe a gravata, e Josefa aprovou-a,
tanto pela cor, como pelo laço, que era uma perfeição.
— Havemos de ser dois casais...
— Acaba: dois casais lindos.
— Eu ia dizer lindíssimos.
E riam ambas.
Uma tratava de conter as impaciências do bigode, outra de animar o acanhamento
da gravata, uma das mais tímidas gravatas que tem andado por este mundo. Não se
atrevia a nada, ou atrevia-se pouco. Josefa esperou, esperou, cansou de
esperar; parecia-lhe brincadeira de criança; mandou a outra ao diabo,
arrependeu-se do convênio, achou-o estúpido, tolo, coisa de criança; esfriou
com a amiga, brigou com ela por causa de uma fita ou de um chapéu; um mês
depois estava casada.
Machado de Assis, in Contos selecionados
Sorria!

Imagem: Google
“Nós estamos aqui para rir. Não podemos
fazê-lo mais no purgatório ou no inferno. E, no Paraíso, não seria conveniente.”
Jules
Renard