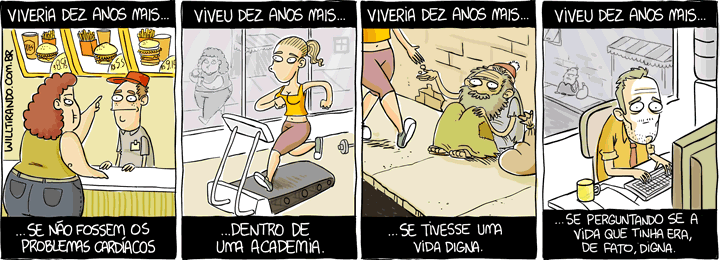Ela defendeu corajosamente JB, aspas
Muitas vezes
leio o seguinte comentário num texto de articulistas da grande mídia: “Como
você foi corajoso!”
Quase
sempre a alegada coragem é uma pancada no governo.
Pois então eu gostaria de discutir o que
é coragem no jornalismo contemporâneo.
Bater no governo,
em democracias, não traz risco nenhum. Portanto, não implica, também, bravura.
Uma
coisa seria criticar Pinochet. Outra é criticar Dilma.
Muitos
jornalistas construíram reputação de corajosos batendo em presidentes, ou
ministros, sem risco nenhum.
“Você
viu como Fulano bateu no Mantega? Que coragem!”
Há uma única situação de real coragem no
jornalismo tal qual conhecemos hoje: criticar alguém de quem o dono goste. Ou
elogiar alguém de quem ele não goste.
O resto é silêncio, como escreveu
Shakespeare.
Faça o teste. Veja, por exemplo, se Jabor
atacou algum amigo da Globo. Ou Merval. Ou Míriam Leitão. Ou tantos outros.
A esse alinhamento automático com os
donos dei o nome, há algumas semanas, de verdadeiro “jornalismo chapa branca”.
É a independência mascarada. E a
liberdade de dizer sim aos patrões: os bravos colunistas são livres desde que
reproduzam os interesses das corporações para as quais trabalham. A esse fenômeno
Noam Chomsky deu o nome de “liberdade para dizer sim”.
Embora aqui e ali discordem, as grandes
empresas jornalísticas têm interesses econômicos comuns, no geral.
Todas elas desejam a permanência de seus
privilégios. Querem a reserva de mercado que condenam em outros setores, por
exemplo.
Querem que o papel que utilizam continue
isento de imposto. Querem uma legislação tributária frágil o bastante para que
sonegar seja um ato banal e impune.
A Globo está no meio de um escândalo
fiscal espetacular. Há, no caso, uma mistura de trapaça descarada e esperteza
detectada.
Para não pagar imposto, como todos
sabemos, a Globo tratou a compra dos direitos da Copa de 2002 como se fosse um
investimento no exterior. Por muito menos que isso o presidente do Bayern de
Munique está prestes a ser preso. E Berlusconi, na Itália, só escapa das grades
por ser septuagenário.
Descoberto o golpe, a Globo foi multada.
Em dinheiro de 2006, a empresa devia mais de 600 milhões de reais à Receita
Federal.
Para coroar o episódio, uma funcionária
da Receita foi presa por tentar fazer sumir a documentação do caso.
Se ela obtivesse sucesso, a Globo estaria
livre de uma dívida superior a 600 milhões de reais.
Parece inacreditável, mas é verdade.
Que jornalista da grande mídia tratou do
assunto? Descontemos a turma da Globo, por razões óbvias.
Mas e a Folha, com seu autoalardeado
espírito combativo e rabo preso com ninguém?
Apenas para efeito de especulação,
imaginenos que a News International, de Murdoch, fizesse algo parecido no Reino
Unido.
As publicações de Murdoch talvez
tentassem minimizar o caso, mas a concorrência disputaria avidamente cada furo
sobre o assunto para estampar na manchete.
E a opinião pública estaria num estado de
torrencial indignação, como quando se descobriu que um tabloide de Murdoch
invadira o celular de uma garota de 13 anos sequestrada e morta.
São as virtudes da concorrência: eu me
calo conforme minha conveniência, mas meu concorrente me investiga, e o
interesse público é protegido.
O que ocorreu no Brasil no caso da Globo?
Num determinado momento, cheguei a falar,
pelo Facebook, com o editor executivo da Folha, Sérgio Dávila. “Escuta, vocês
não vão dar nada?”
A Folha deu uma matéria que pode ser
classificada como miserável.
Depois, o assunto sumiu fo jornal, como
se tivesse sido resolvido. Também Dávila sumiu: deixou de responder a minhas
mensagens no Facebook.
Se algum colunista da Folha – Clóvis
Rossi, Eliane Cantanhêde ou quem seja – tivesse tratado do assunto mereceria
palmas pela coragem.
Mas todos eles sabem que não devem
escrever aquilo que seus patrões não querem que seja escrito.
O que terá acontecido no caso da Folha, o
leitor pode se perguntar. Trabalhei 25 anos em grandes corporações, e posso
imaginar. Um telefonema trocado entre donos resolve tudo.
É possível que, com alguma delicadeza,
alguém da Globo tenha lembrado alguém da Folha que a Globo poderia publicar
histórias que a Folha não gostaria de ver publicadas.
Uma breve conversa telefônica e o
interesse público desaparece sob o peso dos interesses privados.
Coragem, para retomar o tema deste texto,
é sair da zona de conforto dos artigos que você sabe que seus patrões irão
aplaudir.
Dias atrás, Míriam Leitão defendeu
Joaquim Barbosa de um ataque – inusualmente corajoso, aliás – de Noblat.
(Noblat é experiente o bastante para saber que mais um prova de independência
dessas e sua vida na Globo fica dramaticamente ameaçada.)
Míriam
sabia que os Marinhos ficariam felizes com sua defesa de JB. Logo, coragem só
teria havido se ela reforçasse os pontos levantados por Noblat contra as
grosserias de JB.
O que Míriam fez é um exemplo acabado
de “jornalismo chapa branca”. Mas, como numa ação de merchandising, o
leitor pode ser enganado e achar que ela demonstrou grande coragem.
Em junho, Jabor fez uma ação memorável de
jornalismo chapa branca. Atacou ferozmente os protestos, por dar como certo que
os Marinhos eram contra.
Quando ele viu que não, voltou
pateticamente atrás. Chapa branquíssima.
A internet ajudou a desmascarar o novo
jornalismo chapa branca.
Com o crescimento das audiências na
internet e a queda das audiências na mídia tradicional, em breve o jornalismo
digital será forte o bastante para exigir esclarecimentos cabais como o caso de
sonegação da Globo.
O interesse público agradecerá.
Paulo Nogueira, in www.diariodocentrodomundo.com.br